O Brasil como frustração
Por FRED COELHO
Do abismo entre o país desejado e o vivido, nasce um esboço incompleto que é documento eloquente de uma derrota histórica e existencial
No Brasil tudo se transforma aceleradamente, é preciso antecipar-se “inventando” o passado.
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA, Diário selvagem, anotação de 1977
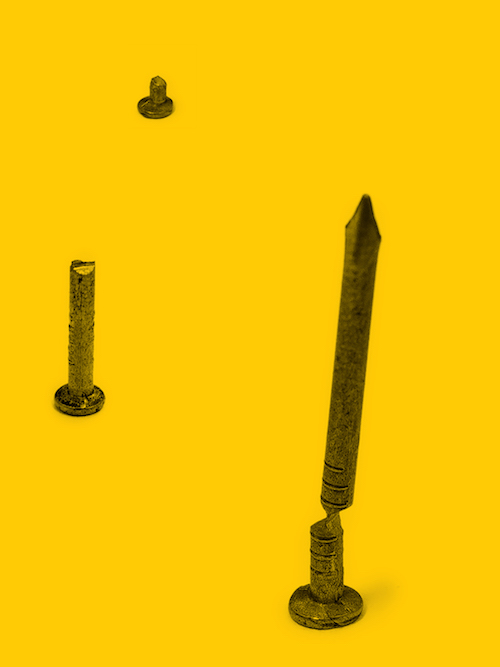
Obras de Bruno Moreschi
1
Não são raros os momentos em que um desejo projetivo de país, constantemente presente em nosso pensamento social, transforma-se em fracasso, momentos em que nos deparamos com uma tensão aberta e permanente entre dois aspectos basilares da experiência social brasileira: o atraso e o progresso. O primeiro, como lastro profundo de análises de nossos problemas nacionais, muito comuns na primeira metade do século 20. O segundo, como condição fundamental para o aspecto dinâmico de uma nação que saía de uma condição colonial em meio às dramáticas transformações do ocidente em seu agônico processo de modernidade industrial. A técnica e a escravidão, a máquina e a natureza, a metrópole e a terra – ou, para ficarmos na fórmula oswaldiana, a escola e a floresta – foram tropos constantes nesse escrutínio de nossa condição histórica e intelectual.
Tateando uma ideia acerca de alguns aspectos desse contraste complementar – sintetizado por Drummond em 1930 na famosa fórmula “no elevador penso na roça, na roça penso no elevador” (“Explicação”, de Alguma poesia) –, sugiro que tal perspectiva projetiva de um “moderno brasileiro”,1 ou seja, todo o léxico cronológico vinculado ao futuro, ao progresso e ao desenvolvimento, gerou como resíduo existencial em muitos intelectuais e criadores o que chamarei de frustração.
A frustração é, e aqui cito dicionários, sentimento que se manifesta pela ausência de um objeto almejado. É também quando o indivíduo é privado da satisfação de um desejo ou de uma necessidade por um obstáculo externo ou interno. Partindo dessa perspectiva projetiva acerca do progresso brasileiro como condição inexorável de modernidades e solução teleológica dos problemas estruturais da sociedade, quantos intelectuais e criadores que viveram no Brasil viram seus sonhos de futuro frustrados? Quantos confrontaram – ou temeram – obstáculos externos ou internos nesse desejo? Com a derrota de seus projetos políticos e estéticos, com a interrupção de suas ambições vivenciais, quantos morreram sem ver o país que imaginavam no que falaram e escreveram? Ou quantos morreram exatamente por não cessarem de aspirar a tal ideia? Projetar o Brasil foi por décadas o prato do dia para pensadores e intelectuais, homens e mulheres que articularam reflexão e ação, crítica e prática. Afinal, como não pensar o país como redenção de um sonho em aberto no Terceiro Mundo em transformação? Como não crer que, como diria a canção, é aqui “que o novo sempre vem”?
Vale sublinhar, neste caso, que não se trata de dissecar o atraso para mapear tal narrativa frustrada, já que a frustração se dá pela infinita postergação do futuro. Ela se abriga, de forma evidente ou alegórica, em narrativas ficcionais, memórias, escritos e demais declarações em que fica latente sua “maquinaria para o desastre”,2 seu princípio devorador que simultaneamente move e aniquila as múltiplas projeções no campo aberto da história nacional. Trata-se de observar o saldo negativo do que Eduardo Giannetti chamou de anatomia do impasse, momento em que “a impossibilidade intelectual de crer não suprime a necessidade emotivo-existencial da crença”.3 Por muito tempo e para muitos, o Brasil foi uma crença, mesmo com todas as impossibilidades intelectuais postas de muitas formas. Tais impossibilidades, porém, nunca impediram que sujeitos de diferentes formações sociais e regiões almejassem, nos campos da arte e das ideias, um país que fizesse jus ao seu destino. Mais do que as utopias, foi a possibilidade concreta do novo que mais produziu frustração.
Não falo aqui apenas de frustrações resultantes de derrotas pessoais, suicídio ou falência de uma carreira – essas são tristezas muitas vezes existenciais, no limite da vida privada contaminada pela vida pública. Nossa lista de suicidados pelas condições históricas do país é longa: trata-se da frustração como catarse estética de uma derrota macro-histórica.
A derrota do “país novo” que ainda podia ser fruto de especulações sobre o porvir, mas rapidamente precisa lidar com sua condição crônica de subdesenvolvimento. Glosando o Antonio Candido de “Literatura e subdesenvolvimento”, o clássico de 1970, tal frustração é mais ligada à luz do que sobra do que à sombra do que falta. Uma vez mais, não é o atraso que nos frustra, mas a obrigação de futuro. Nessa perspectiva, fundar uma nação, modernizar uma sociedade e superar sua miséria são imperativos constantes. Assim como, quando tudo dá errado, produzir diagnósticos e autópsias do cadáver frustrado. Nossa “grandeza não realizada”, ainda citando Candido, gera em muitos a frustração de planejar, projetar ou sonhar incessantemente um país desejado que nunca ocorre. Como nos lembra Silviano Santiago em outro conhecido ensaio sobre a dependência, o intelectual brasileiro – ou os demais que habitam ex-colônias – fica espremido entre o discurso histórico, “que o explica, mas o destruiu”, e a tarefa antropológica, em que “não mais se explica, mas fala do seu ser enquanto destruição”.4 De alguma forma, a frustração se instala justamente quando essas narrativas da destruição se impõem sobre os projetos que buscam superá-las.
Há ainda outros patamares mais imediatos, como a frustração provocada pela incompreensão das ideias formuladas, a frustração do exílio, a frustração do isolamento, a frustração da impotência de uma voz. É quando o criador desenha e resenha um país cujas possibilidades são reais, mas os resultados são aquém, muito aquém do planejado. Quando o país nega a um sujeito os meios de viver seu projeto de transformação nacional. É quando, por fim, diante do abismo entre o país desejado e o vivido vê-se apenas um esboço incompleto.

2
Apesar de o modernismo de 1922 ter implementado entre nós o ímpeto destruidor característico das vanguardas e dinamizado todas as esferas dos campos artísticos e intelectuais de então, não se tornou de imediato escola ou cânone para as gerações que o sucederam. Por mais que tenham exercido sua “ação espiritual sobre o país”, como afirma Mário de Andrade na famosa conferência proferida no Itamaraty em 1942, os princípios do modernismo seriam abandonados pelos romancistas da geração de 1930.5 No fim de suas vidas, tanto Mário quanto Oswald de Andrade manifestaram, de formas distintas, o travo amargo da frustração com o legado de suas obras. Ou, para usarmos mais uma vez palavras de Mário, a frustração derivada de uma “ilusão vasta”.6
O relato de Mário na referida conferência tornou-se definitivo para a historiografia do movimento modernista por conta do balanço negativo de sua obra e da de seus parceiros. Apesar de pontuar a importância de suas três diretrizes fundadoras para o futuro da arte brasileira – o direito permanente à pesquisa estética, a atualização da inteligência artística brasileira e a estabilização de uma consciência criadora nacional –, o autor de Macunaíma, o herói sem nenhum caráter aponta um “paradoxo irrespirável”, fruto do individualismo esteticista de artistas que não marcharam com as multidões de seu tempo. Para ele, o modernismo, 20 anos depois da Semana que o celebrizou, não cumprira sua missão.
Oswald de Andrade não era menos cético ao avaliar o movimento. No fim da vida, atestava a fragilidade da memória modernista dentre as novas gerações e previa que sua permanência seria fruto de batalhas constantes. Numa entrevista concedida à Tribuna da Imprensa em setembro de 1954 e publicada sob o título “Estou profundamente abatido: meu chamado não teve resposta”, ele lamenta que as inovações literárias da geração de 1922 tenham sido abandonadas em prol de um “retrocesso na literatura brasileira”.7 Em janeiro daquele ano, já tinha afirmado que “as novas gerações não corresponderam ao esforço de 1922”. Não é o caso de afirmar que Oswald morrera frustrado, ao contrário. Definindo-se como um “toureador que jamais matará o touro” em entrevista que o Correio Paulistano publicou em 24 de outubro, dois dias depois de sua morte, o escritor mostrava-se ainda em condições de pelejar suas opiniões. Mesmo assim, o balanço final de seu legado trazia o mesmo amargor que a conferência de Mário de Andrade, que falecera nove anos antes, em 1945. Algo dera errado no desejo de um futuro. Algo não se cumprira em sua promessa. Se, nas palavras de Mário, o modernismo era fruto de uma “força fatal que viria mesmo”, seus criadores não conseguiram ver o momento em que suas ações se firmaram como legado definitivo para futuras gerações.8
3
Um dos exemplos paradigmáticos desse tipo de intelectual que acreditou na possibilidade de inventar um “país novo” foi Glauber Rocha, que, desde a juventude, planejou intervenções críticas na cultura brasileira. Paralelamente aos seus filmes, sempre elaborou panoramas gerais sobre a história política brasileira e seus desdobramentos na contemporaneidade. Produziu manifestos, livros, artigos, romances, todos tendo como assunto central ou horizonte de interesse o Brasil ou, em sua grafia inventiva, Brazyl. Dialogou com políticos, acadêmicos, artistas, economistas, militares, estudantes, burocratas de diferentes nações e gerações sobre o quadro histórico de seu tempo. Chegou a cogitar, inclusive, disputar cargos eletivos (o governo da Bahia e até mesmo a Presidência da República) e criar partidos políticos.
Nessas diversas frentes de ação, fez com que sua vida e a história do país se entrelaçassem constantemente. Em pouco mais de 25 anos de atividade intelectual ininterrupta no Brasil e no mundo, Glauber rompeu com diversos parceiros, contrariando expectativas políticas com seus posicionamentos surpreendentes e, muitas vezes, visionários. Tal capacidade de organizar uma narrativa em grande escala do país pode ser conferida, por exemplo, em Patrulhas ideológicas, livro organizado e publicado em 1980 por Heloisa Buarque de Hollanda e Carlos Alberto Messeder Pereira. Com apenas uma pergunta feita pelos entrevistadores, o cineasta dá um amplo, contundente e minucioso depoimento sobre a crise do que chama “linguagem brasileira” durante o processo de abertura democrática. Vivendo naquele momento em Sintra, Portugal, afirma: “Eu sou, digamos assim, completamente rompido com a intelectualidade dominante no Brasil, não pessoalmente, mas no campo das ideias”.9
Em 1981, que seria seu último ano de vida, um exausto Glauber Rocha envia de seu “exílio involuntário” português uma série de cartas para amigos no Brasil. São escritos em que narra sua agonia com prazos, financiamentos e estratégias comerciais de A idade da terra, filme iniciado em 1978 e concluído em 1980 após vários contratempos, resultando em fracasso no Brasil e no exterior. Vivendo em um longo exílio nômade entre 1971 e 1976, sem nunca abandonar o debate público brasileiro, Glauber retorna no início da década seguinte para a Europa, ainda disposto a trabalhar em novos projetos. Seu quadro de saúde, porém, se agrava. Nas cartas de Sintra, o que vemos é o vórtice de um criador frente aos fechamentos de sua existência artística e política. Glauber passara nos últimos anos por uma série de embates com o meio intelectual brasileiro por conta de declarações polêmicas envolvendo a abertura política e o papel dos militares no poder e na redemocratização. Além disso, seu cinema cada vez mais experimental não encontrava lugar num momento em que a Embrafilme privilegiava pornochanchadas ou filmes com perfil mais comercial. Em 23 de março, ele escreve a Cacá Diegues dizendo viver um intervalo, um “fim de ciclo psíquico e corporal”. Seu novo exílio inaugurava, também em suas palavras, um “futuro incerto”.10 Em 9 de abril, em carta a Celso Amorim, então presidente da Embrafilme, diz ser um “marginalizado no cinema brasileiro” e exige que comprem definitivamente os direitos mundiais de algum de seus filmes para que não passasse outra crise financeira. Em nova carta a Amorim, de 8 de junho, Glauber afirma sem meias palavras:
Dei o máximo ao cinema brasileiro e depois fui expulso. E falido. Minha OBRA vale dinheiro. Nunca foi devidamente distribuída. É famosa, mas não conhecida. Não é justo que eu esteja na MISéRIA e meus filmes continuem paralisados. A Embrafilme, por ser do MEC, tem o dever de SALVAR OS FILMES e ME SALVAR.11
Dois meses depois do pedido indignado, em 22 de agosto, o cineasta falece.
É marcante o tom das últimas cartas de Glauber após o ápice da frustração representado por A idade da terra. Para além do aspecto financeiro, o pedido de salvação simultânea dos filmes e do seu cineasta produz uma demanda existencial frente ao país que ele tanto acreditou poder mudar. A reivindicação de serviços prestados (“dei o máximo ao cinema brasileiro”) como justificativa pela compra de sua obra aperta o nó górdio entre o artista e sua doação a algo que considerava maior – não apenas ao cinema brasileiro, mas ao Brasil, ou pelo menos ao Brasil projetado em seus escritos e filmes. A falência de um pensamento sobre cinema em seu derradeiro filme é também a falência de uma visão de futuro – e de uma vida.

4
E por que aspirar a – e mesmo reivindicar – um país de futuro redentor como resultado de racionalidade econômica, invenção estética ou devir revolucionário? Como saber os limites entre a produção virtuosa de uma modernidade e a opressão de uma modernização? Um dos sintomas desse ímpeto e impasse projetivo que atravessou nossos pensadores (nossa “maquinaria para o desastre”) também se encontra nas profecias que fizeram sobre nós. Fiquemos apenas nas mais famosas: o Brasil que Stefan Zweig previu como “país do futuro”, em 1941, ou o país “condenado ao moderno”, na análise de Mário Pedrosa em 1959. Apesar de elaboradas em contextos bem diferentes, as duas afirmações se entrelaçam de forma engenhosa. Ao produzir, em tom imperativo, uma sentença que parece inexorável, Zweig condena o país ao ímpeto projetivo e etapista que Pedrosa chama de “moderno”. Ao afirmar que o Brasil “está destinado a ser um dos mais importantes fatores do desenvolvimento futuro do mundo”, o escritor austríaco dobra a aposta ao fazer de nosso progresso local o dínamo de um progresso mundial.12 Pedrosa, por sua vez, também insere o país e seu futuro em um jogo de forças com o mundo. Na famosa sentença, o crítico articula passado, fatalismo e formação para afirmar nossa condenação – ou seja, nossa culpa. De alguma forma, éramos culpados pela obrigação de futuro; e nossa única saída seria abraçar o moderno. Mas se, como o próprio crítico afirma, o “nosso passado não é fatal”, o futuro redentor do atraso atávico se mostrou, muitas vezes, uma armadilha.13
O que animava as falas de Pedrosa e de Zweig era o substrato da retórica de um “país novo” e de sua experiência singular de modernidade frente às demais nações. Em 1959, o projeto sem precedentes da Capital Federal confirmava a profecia do futuro progressista proferida em 1941, mesmo que o decorrer de sua história mostrasse o contrário. A correlação entre futuro e modernidade, no caso dos países colonizados, é inevitável. Se o olhar exótico do europeu que fugia da guerra era bem mais complacente e exortativo do que a visada crítica de um pensador brasileiro formulada a partir da construção de Brasília, ambos afirmavam um país a se fazer em um tempo do porvir. País cujo passado escravocrata e agrário era mera contingência sem maiores danos ao fluxo diacrônico do progresso. O eixo temporal se impõe sobre o eixo espacial e faz do tempo presente uma passagem que adia – infinitamente? – a redenção.14
Dentro de uma história que ao longo de séculos nos empurrou constantemente para as luzes da razão e do progresso ocidental, o futuro foi muito mais do que uma possibilidade entre muitas dentro do tempo e do espaço. O futuro, aqui, foi salvação e maldição. Só podemos aspirar a futuros, pois precisamos nos equiparar ao que já está “na frente”: a Europa, a história da arte, a democracia, a economia liberal, as vanguardas etc. Isso funcionou muito bem quando o futuro da civilização ocidental brilhava como garantia hegeliana de progresso inexorável rumo à liberdade e à plena felicidade iluminista. E hoje? Pode a civilização ocidental prometer ainda um futuro para o mundo e os países que vivem ao seu redor? Pelos últimos eventos, não. Pode, finalmente, o Brasil abrir mão dessa promessa cosmopolita e pleitear seu próprio futuro por meio de um desrecalque do Ocidente? Ou isso seria, de alguma forma, o “fim do mundo” como o entendemos? Ainda somos uma nação dependente de grandes centros irradiadores de ideias ou já somos independentes e universais? Em suma, somos já parte das grandes nações do mundo ou seguimos frustrados com os futuros prometidos?
5
Numa cultura em que, nos séculos 19 e 20 ao menos, letramento e literatura estiveram no centro irradiador de discursos sobre pertencimento e projetos de desenvolvimento, o futuro também foi fruto da tensão entre novas formas e velhos hábitos, entre o projeto e o arquivo. O porvir e a memória, o novo revolucionário e o passadismo acadêmico formaram alguns dos pares que nortearam nossas narrativas ficcionais e nossa poesia. Ao mesmo tempo que uma parte de nosso pensamento buscava a atualização cosmopolita, outra parte visava à investigação dos espólios que o progresso urbano deixava no meio rural. O futuro, nesse caso, surgia como responsável pela perda da longa estabilidade patriarcal e interiorana; mais uma vez, formação e fatalidade. Em seus anos de expansão e difusão, boa parte da literatura da geração de 1930 e 1940 escolheu não o futuro, variável aberta do tempo, mas sim a terra, variável imóvel do espaço. Ampliou o território nacional para materializar um país e os dilemas ao redor da superação de um quadro estático. Seus autores fizeram constantes relatos do atraso e do drama da transição populacional de um meio arcaico rural para um meio moderno e industrial. São os anos em que nos debruçamos sobre nossa modernização conturbada e claudicante. Em romances e diagnósticos ensaísticos de caráter sociológico, antropológico e histórico, autores os mais diversos tematizaram o território nacional, sua ocupação, paisagens, diversidade populacional e miséria. Se na literatura temos um mergulho no cotidiano do homem simples do campo, nos estudos dos problemas nacionais eram temas centrais nossa condição colonial e o dilema da sua superação – isto é, fazer do futuro e do moderno algo efetivo, e não apenas projetivo.
Ainda assim, a ficção pouco se dedicou a um possível futuro do Brasil. Apesar de conhecer os gêneros dedicados ao fantástico, como a ficção científica, poucos foram os autores brasileiros que se dedicaram a obras especulativas ou a projeções distópicas. Escreveu-se muito sobre o futuro, mas pouco sobre um futuro. Não elaboramos em nosso imaginário coletivo alternativas de vida para além de nossa perplexidade histórica de ser parte de um imenso território. A terra, e não a máquina, foi o tema central do período. O espaço sideral, por exemplo, nunca foi uma aspiração concreta – o interior, as matas, o sertão e a floresta foram nossos infinitos a serem descobertos e explorados. O Éden aberto que fomos no imaginário do mundo nos vinculou à natureza, a uma utopia particular: o paraíso é aqui, não precisamos buscar nada além de nós mesmos. Ficamos com a sensação de que o brasileiro se basta em sua temporalidade confusa e atravessada entre o arcaico e o moderno.
Talvez a obrigação de analisar o presente subdesenvolvido e o passado colonial e escravocrata tenha embotado um desejo de futuros. Talvez a explicação esteja numa forte tradição do tema da memória como motor da ficção – de Manuel Antônio de Almeida a Pedro Nava, passando por Machado de Assis, Lima Barreto, José Lins do Rego, Oswald de Andrade, Graciliano Ramos e ainda pela poesia ligada ao espaço de origem (Drummond e Minas, João Cabral de Melo Neto e Pernambuco). Vale lembrar, porém, a sugestão de Jacques Derrida: todo arquivo é, simultaneamente, tradicional e revolucionário. Ao mesmo tempo que institui o passado no presente, abre novas frentes de leitura sobre o futuro. Se escritores não tematizaram o futuro como matéria ficcional, a constituição minuciosa desse arquivo da vida provinciana lastreou transformações decisivas entre novas gerações – como a de Glauber Rocha, por exemplo.

6
Lembrar que somos fundados em matrizes messiânicas, na utopia do Quinto Império, na mitologia sebastianista. Esperar a salvação futura é uma prática cotidiana nossa. Talvez a frustração também seja. Lembrar que “o dia de amanhã” como esperança transformadora é uma perspectiva arraigada em nosso imaginário, do mais popular ao mais complexo. Lembrar que nas passeatas de 2013 um dos lemas era “Amanhã vai ser maior”. O futuro, além de obstáculo, ainda é salvação?
7
Em 1973, Gilberto Freyre arriscava exercícios especulativos. Antecipando o italiano Domenico de Masi e sua futurologia pop, Freyre prescrevia, no livro Além do apenas moderno – Sugestões em torno de possíveis futuros do Homem em geral e do Homem brasileiro em particular, mais tempo livre para que nos tornássemos um novo tipo de povo. Tal perspectiva especulativa mostrou-se completamente equivocada, e sua crença em uma nação morena e livre por conta do salto tecnológico era quase consonante com os planos militares vistos em documentos oficiais e planejamentos de governo – muitos, aliás, guiados pela retórica do futuro, do progresso e do desenvolvimento. Nessa perspectiva, era a modernização através da “tecnologia das telecomunicações” que mudaria o futuro do Brasil-potência e o integraria à civilização. Aqui, é irresistível lembrar de que forma um filme como Bye Bye Brasil, de Cacá Diegues (1979), já apontava os limites e as frustrações dessa utopia tecnológica do lazer eletrônico materializada nas antenas de televisão em profusão no interior miserável do país. Aliás, a frustração é tema central do filme, ao tratar de artistas circenses que perdem espaço no lazer midiático das populações amazônicas. Um futuro que esmaga rapidamente os que não se adaptam a ele.
8
E como pensar o futuro do ponto de vista do atraso? São gerações que já iniciaram seus projetos de modernidade aquém do presente, ou seja, no passado do tempo que desejavam ser. Aspirar a futuro era ficar em dia com o relógio do tempo e da história europeus. Na literatura do século 19 tínhamos de dar conta dos “ismos” em profusão, assimilando romantismo, naturalismo, realismo, simbolismo e parnasianismo em pouco menos de três décadas. Quando chega o século 20, o feixe mais amplo de “ismos” ligados às vanguardas históricas foi sintetizado em um nome: modernismo.15 Em momento posterior, é o concretismo que projeta o futuro através da linguagem, propondo a vitória moderna do texto sobre o precário contexto. Sua eclosão no país coincide com o surgimento dos museus de arte moderna, espaços que buscam equalizar temporalidades distintas entre o arquivo e a invenção. Mas como pensar o futuro em um momento em que ainda se precisa cantar “chega de saudade”? A bossa nova, assim como a poesia e a pintura concretas, representava um futuro? Caetano Veloso chega a afirmar que o Brasil “precisa merecer a bossa nova” e seu otimismo trágico.16 Lorenzo Mammì, por sua vez, afirma que “a bossa nova é promessa de felicidade”.17 Otimismo e promessa, duas palavras que nos atam, necessariamente, ao progresso, ao futuro, àquilo que poderia nos salvar. Teria a bossa nova realizado sua promessa ou teria sido mais uma de nossas modernidades frustradas?
Afinal, Tom Jobim, Vinicius de Moraes e João Gilberto sem dúvida nos tornaram parte de um futuro cosmopolita. Um futuro que, dez anos depois, já seria visto como “relíquia do Brasil” e “saudosismo” por um jovem Caetano Veloso e suas canções tropicalistas. Em menos de uma década, o futuro promissor de Brasília e da bossa nova tornou-se um impasse frustrante entre tecnologia, conservadorismo, totalitarismo e subdesenvolvimento.18 A estratégia de retomada de uma “linha evolutiva”, selecionando repertórios modernos e os articulando com uma tradição singular brasileira, ensejou um projeto simultaneamente otimista e trágico que, em menos de três anos, resultou na prisão e no exílio de seus principais organizadores. No início da década de 1970, o “desejo amoroso de modernidade pelo Brasil”, definição poética de Rogério Duarte para o tropicalismo, se torna o pesadelo do exílio e a recusa de qualquer vínculo com o projeto de modernização brasileira por parte do regime militar. Como afirma Caetano em artigo no Pasquim, de novembro de 1969, ao falar sobre ele e Gil em Londres: “Nós estamos mortos”. Mesmo que tenham sobrevivido, a interrupção de seus trabalhos – suas mortes – funda novos sujeitos criativos nos anos que viriam.

9
Em 1956, três anos antes de Mário Pedrosa afirmar nossa condenação ao moderno, o filósofo Álvaro Vieira Pinto, um dos principais nomes do Instituto Superior de Estudos Brasileiros, o Iseb, escreve Ideologia e desenvolvimento nacional. Seus livros, publicados principalmente entre 1955 e 1965, davam o tom conceitual dos lemas à esquerda, principalmente nos meios universitários de então. No ensaio em questão, vemos como o tema-chave daquela geração implicava justamente a ideia de um futuro promissor: o desenvolvimento. Desenvolver, expandir, crescer, melhorar, em suma, progredir, era o pano de fundo dos debates que ocorriam em diversas frentes. Obras como as de Celso Furtado, Darcy Ribeiro, Florestan Fernandes e muitos outros se debruçavam sobre o desenvolvimento, sem perder de vista o desafio latente na realidade nacional: o subdesenvolvimento. As saídas ligadas a “reformas ou revoluções”, para glosar aqui um título de Roland Corbisier, se projetavam constantemente. Para Vieira Pinto, era o momento de uma encruzilhada: “Ou tomamos o rumo do desenvolvimento, o que se dará à medida que formos capazes de utilizar os dados da ciência e os instrumentos da técnica, a serviço de uma ideologia do progresso, ou, se o não fizermos, enveredaremos pela estrada do pauperismo”.19
O progresso foi certamente o motor que mobilizou, de forma insólita, direitas e esquerdas. O progresso como espécie de moira, destino inexorável cuja encruzilhada, para usar os termos de Vieira Pinto, era apenas a definição da forma ideológica pela qual optaríamos. A guerra fria como pano de fundo adicionava ao tema do progresso e do futuro cenários esperançosos de igualdades e liberdades. Em ambos, porém, a técnica, a máquina, a cibernética e a racionalidade eram guias efetivos para a travessia. O uso dos mesmos princípios pela ditadura civil-militar – aqueles que, como Vieira Pinto alertava, tomaram os rumos do desenvolvimento – é mais uma etapa das frustrações geracionais dos pensadores progressistas que sofreram dura derrota com o golpe de 1964. O progresso, ou seja, o futuro, enveredou pela estrada da concentração de renda e, por fim, do pauperismo. Uma derrota geracional que só os anos de redemocratização iriam mitigar.
10
Hoje, vivemos um tempo pleno de frustrações no que diz respeito a uma visada projetiva sobre o futuro brasileiro. O incêndio do Museu Nacional se instala no ano em transe de 2018 como metáfora lancinante dessa impossibilidade de olharmos livres para a frente. Se, como disse Mário Pedrosa, o passado não pode ser fatal, o presente pode. A divisão do espaço público em diferentes projetos de país e o quadro de recrudescimento conservador que se afirma no horizonte torna qualquer perspectiva – seja pública, seja privada – incerta. Certamente novos relatos sobre a frustração irão aparecer e novas maquinarias para o desastre serão urdidas, já que o futuro hoje é mais distópico e desprovido de esperanças do que no passado.
Branco sai, preto fica (2014), filme de Adirley Queirós que é um dos mais contundentes exercícios projetivos contemporâneos, nos apresenta uma perspectiva precisa desse momento: a miséria brasileira é o futuro. Em Ceilândia, cidade-satélite da mesma Brasília que nos condenou ao moderno, seus ângulos e cenários reais remetem a um mundo pós-destruição, cujas imagens e personagens nos deslocam para a perspectiva distópica de um futuro maquínico e precário. Suas sutilezas visuais e sua proposta narrativa descolam nossa fruição de um realismo documental e nos arremessam em uma espécie de gênero híbrido em que o delírio tecnológico da ficção científica nasce nas periferias das grandes cidades a partir de próteses e computadores. Seus personagens vivem “passados futuros” e são pedaços reais das tragédias atávicas – especificamente, de um ato cruel que ressoa até hoje como um subgrave infinito na trilha sonora do país: a invasão policial de um baile black da vizinhança e a violência contra jovens dançarinos negros que interrompe seus planos e, principalmente, seus futuros.
Ao mesmo tempo, esses personagens, meio homens, meio metal, que usam próteses e cadeiras de rodas, são marcados eternamente pela memória – da juventude e dos movimentos perdidos. Eles se tornam os portadores de um saber transgressor e secreto da tecnologia das sobras, das gambiarras arqueológicas de ferros-velhos, das rádios piratas solitárias, das músicas eletrônicas populares, das bombas caseiras feitas com solda, grooves e luzes frias. No filme de Adirley, o futuro é o do pretérito e já se projeta como frustração coletiva. Frustração essa que se torna o motor de uma revolução interdimensional – a destruição do Brasil do passado por um Brasil do futuro. Assim, a frustração que ainda está por vir já está contida no ontem. Um tempo parado que irrompe o hoje como um grito seco de ódio acumulado e que inviabiliza qualquer possibilidade de existir um “futuro do futuro”.
O tempo presente é, na verdade, o grande desafio projetivo que enfrentamos. De certa forma, perdemos aos poucos o direito a futuros de países novos e precisamos viver de forma radical o agora. Ironicamente, talvez essa seja a oportunidade de o Brasil deixar de ser uma frustração para se tornar um campo aberto de experimentações. Se não há mais formações em jogo, o passado também não justifica os erros enraizados no presente e sua fatalidade permanente a ser digerida e transformada. E se também não é possível projetar do zero uma nova civilização – e quando isso teria sido possível? –, ainda é necessário projetar novos cenários para existirmos coletivamente como uma nação. Afinal, mesmo com as frustrações, nunca paramos de desejar um país. A pergunta é: até quando?
Fred Coelho (1974) tem formação em história e literatura. Professor da PUCRio, tem vasta atuação em crítica cultural, da música às artes visuais. É autor, dentre outros, de Livro ou livro-me – Os escritos babilônicos de Hélio Oiticica (EdUerj) e Eu, brasileiro, confesso minha culpa e meu pecado – Cultura marginal no Brasil 1960/1970 (Civilização Brasileira).
Nascido em Maringá (PR) e radicado em São Paulo, Bruno Moreschi (1982) é pesquisador e artista visual. As obras aqui reproduzidas pertencem à série Erros, de 2012. Fotos de Filipe Berndt
NOTAS
- O termo é retirado de um artigo de Marcos Nobre, “Da ‘formação’ às ‘redes’: filosofia e cultura depois da modernização” (2012), publicado em Cadernos de filosofia alemã: crítica e modernidade, v. 19, jan.jun., 2012, São Paulo, pp. 1336. Agradeço a Miguel Conde pela indicação.
- O termo foi criado por Davi Arrigucci Jr. para a orelha do livro de poesias Algaravias, de Waly Salomão, publicado pela Editora 34 em 1996.
- Eduardo Giannetti, Trópicos utópicos. São Paulo: Companhia das letras, 2016, p. 22.
- Silviano Santiago, “Apesar de dependente, universal”, in: Vale quanto pesa – Ensaios sobre questões político-culturais. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1980, p. 17.
- A conferência “O movimento modernista” foi feita em 30 de abril de 1942 no Salão de Conferências da Biblioteca do Ministério das Relações Exteriores do Brasil, para a Casa do Estudante do Brasil. Está publicada em: Mário de Andrade, Aspectos da literatura brasileira. São Paulo: Martins, 1974, p. 231.
- Ibidem.
- Essa entrevista está publicada em Os dentes do dragão, volume de entrevistas organizado por Maria Eugênia Boaventura e publicado pela editora Globo em 1990, p. 237.
- É curioso pensar que durante os anos 1960, ambos são retomados como nomes fundadores da modernidade brasileira, seja pela releitura da obra e do arquivo de Mário de Andrade com os estudos do Instituto de Estudos Brasileiros da USP, seja pela apropriação da antropofagia de Oswald pelos poetas concretos de São Paulo, pela encenação clássica de O rei da vela pelo Teatro Oficina, ou pelas correlações feitas entre as canções tropicalistas de Caetano Veloso, Gilberto Gil e Torquato Neto com sua obra.
- Carlos Alberto Messeder Pereira e Heloisa Buarque de Hollanda (orgs.), Patrulhas ideológicas – Arte e engajamento em debate. São Paulo: Brasiliense, 1980, p. 33.
- Os trechos das cartas de Glauber Rocha citados nesta parte são retirados de Cartas ao mundo, livro organizado por Ivana Bentes e lançado pela Companhia das Letras em 1997.
- Ivana Bentes (org.), Cartas ao mundo. São Paulo: Companhia das Letras, 1997, p. 694.
- Stefan Zweig, Brasil – País do futuro. Rio de Janeiro: Editora Guanabara, 1941, p. 10.
- O trecho completo de Mário Pedrosa é: “O nosso passado não é fatal, pois nós o refazemos todos os dias. E bem pouco preside ele ao nosso destino. Somos, pela fatalidade mesma de nossa formação, condenados ao moderno”, Mário Pedrosa, Dos murais de Portinari aos espaços de Brasília. São Paulo: Perspectiva, 1981, p. 347.
- Aqui, cabe uma atualização de tais profecias: em entrevista alguns anos atrás, o antropólogo Eduardo Viveiros de Castro reverteu essa “promessa” e cravou sua tragédia dizendo que “o futuro virou o Brasil”. E isso não era um elogio ao futuro. Ver: Eduardo Viveiros de Castro, “Temos que criar outro conceito de criação: entrevista a Pedro Cesarino e Sergio Cohn”. In: Renato Sztutman (org.), Encontros – Eduardo Viveiros de Castro. Rio de Janeiro: Azougue, 2008, p. 170.
- E aqui vale lembrar o esforço empreendido por Mário de Andrade em diferentes ocasiões para rechaçar o termo “futurismo paulista” como definição dos trabalhos que o grupo de intelectuais produzia em São Paulo na década de 1920.
- O trecho se encontra no texto “Diferentemente dos americanos do norte”, conferência proferida em outubro de 1993 no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro e publicada em O mundo não é chato, coletânea de escritos de Caetano Veloso organizada por Eucanaã Ferraz para a Companhia das Letras em 2005, p. 51. Vale a pena citarmos o trecho anterior à frase sobre a bossa nova, vinculado diretamente ao tema deste ensaio (p. 50): “Quantas vezes ouvi dizer que o Brasil cansou de ser o país do futuro, ou que o Brasil era o país do futuro, mas o futuro já chegou, já passou e o Brasil ficou aqui”.
- Em um artigo dedicado ao ensaio de Mammì, Walter Garcia nos lembra que é necessário citarmos a frase completa para irmos além do sentido tautológico da promessa de felicidade. Mesmo que não tenha seguido a sugestão de Garcia, cito aqui: “Se o jazz é vontade de potência, a bossa nova é promessa de felicidade”. A análise profícua do tema – e seus desdobramentos no âmbito da canção brasileira contemporânea – se encontra em Walter Garcia, “Radicalismos à brasileira”. Revista Celeuma, n. 1, 2013, São Paulo, p. 20.
- Anos antes do tropicalismo de 1967/1968, havia também o futuro nacional-popular das canções de protesto, plenas de metáforas sobre um amanhã depois das trevas, sobre um porvir revolucionário e popular. Lembrando Walnice Nogueira Galvão, foi a retórica do “Dia de amanhã” que ilustrou esse momento na música e nas artes. Ou, como anunciavam Vianinha e Chico de Assis em 1960, “a mais valia vai acabar, seu Edgar”.
- Álvaro Vieira Pinto, Ideologia e desenvolvimento nacional. Rio de Janeiro: MEC/Iseb, 1960, p. 15.
Pingback: [Escuta Recomenda] Semana 2 – ESCUTA.