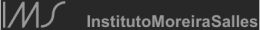O Crátilo pretende que o nome é da essência da coisa e que esta não recebe seu nome, mas, corretamente observada, ela é que ensina seu nome ao homem. E assim “en las letras de rosa esta[ría] la rosa/ y todo el Nilo en la palabra Nilo” (Borges). Mas é difícil convencer alguém disso no século 21, porque o mundo se expandiu para fora dos limites da Magna Grécia e não seria razoável sustentar que “ovo” é mais ovo que “egg”, ou “ Ei” ou que os nomes que ele recebe em árabe ou mandarim. Isso admitido conduz à hipótese de que as coisas são anteriores a seus nomes, de que nos chegam e aparecem um instante mais ou menos longo antes do batismo. As coisas naturais, mas também as descobertas, as revelações e as invenções e abstrações.
Exemplo: “eletricidade”. Foram buscar a voz grega e meteram-lhe, melhor, pospuseram-lhe o sufixo: -cidade, –cidad, –cità, –zität, –city. Outro: “linha”. Do latim linea, feminino de lineus, quer dizer “de linho”, derivado de linum, grego linon, linho, planta que dá a fibra de que se fazem as linhas de costurar ou tecer ou torcer em fio, barbante, cabo, corda etc. No Houaiss, “linha” ocupa uma página naquele corpo miúdo. Eric Partridge (Origins –— a Short Etymological Dictionary of Modern English) dedica-lhe outro tanto, apesar do extremo taquigráfico do texto. Não nos adiantam de quase nada para o que aqui se trata – nem é função ou escopo dos dicionários resolver a perplexidade em que viveu Sérgio Camargo frente à linha como desenho. O escultor não conseguia a nossa calma diante do impalpável que é a linha, a nossa naturalidade irrespon sável diante de algo que não está na natureza. Vem e diz isso mesmo e você fica catatônico: estou tratando com um louco, um selenita? Mas já tomou o empurrão. Corre ao dicionário. Pouca ajuda: “GEoM traço contínuo, alongado, real ou imaginário, representativo de uma extensão, que se considera hipoteticamente como não tendo largura nem altura, só comprimento”. Então tem que ir sozinho, palmilhar e percorrer um caminho muito provavelmente já andado por outrem, porque a coisa é primária e o mundo é velho. Feito o homem que formulou e demonstrou o teorema segundo o qual sempre que a diferença entre dois números for 1 (um inteiro), a soma deles é igual à diferença entre seus quadrados – lugar a que chegou sozinho, mas não podia acreditar que fosse o primeiro, por isso mesmo que a coisa é simples e o mundo, velho. E então? Como explicar essa, pensando bem, essa (br)uta abstração a que deram o nome do fio de linho? Porque linha/ desenho não tem, feito existem som, cor e volume, na natureza. E essa invenção que se torna uma necessidade, e essa necessidade-de-linha no homem? Necessidade e vontade –- Wille, voluntas, quero, faço, tenho que –, tão radical, na verdade quase fanática, que leva um sujeito na Pré-História a resolver (e o obriga a) gravar um cavalo de linhas – linhas, não é cor, não é pintura, não, são linhas, incisões, imagine-se como! –, numa pedra tão duríssima que ainda está lá, há milênios debaixo de soalheiras e aguaceiros. A humanidade se extinguirá, Bach, Velázquez, Pitágoras, Homero, as Escrituras e seus profetas de pedra-sabão se esfarinharão, e o cavalo lá estará, perfeitamente absurdo, e mais: invisível para o marciano, porque não haverá cavalos para informar que aquilo é a representação de um. Até aqui chegamos: a linha é “criação humana, desde antes da primeira pessoa que ensinou a outra o caminho desenhando com um bastão na terra (…). É uma magia da idade das constelações, que são brincadeira de ligar os pontos luminosos do céu. Essa abstração, que foi o sonho de um louco, é tão velha na gente que se transformou numa segunda natureza do bicho. Tanto que qualquer criança é dona do mistério aparentemente banal: dentro das linhas é papel, ou pedra, ou parede, ou terra. Fora também. Dentro e fora, a mesma matéria e da mesma cor. Mas dentro é coisa e fora é nada.”1 E agora? Sérgio Camargo só concebia o táctil e o que está embutido no espaço – e nos bota uma pulga deste tamanho atrás da orelha, transfere-nos a perplexidade e dá-nos as costas. Que nos apanhemos. E aqui a temos com seu nome, mas tão afastada da coisa natural ao longo das idades que é como aquelas palavras que se tornaram homógrafas e homófonas mesmo com origens e seguindo por caminhos completamente diferentes –— e tão evoluída, ela, e empurrada a tal ponto que dela se servem homens como Rafael, Rembrandt, Matisse e Carlos Leão, não para desenhar, coisa primitiva, mas para fazer a lápis, a nanquim, a vontade daquela mulher que queria ser pandeiro para sentir o dia inteiro determinada mão na pele dela (Noel e Aracy). Desenho como carícia… Mas como – e por quê? O mistério daquele cavalo… Por onde avançar mais um pouquinho? (Euclides! como é que não pensamos no Euclides?)