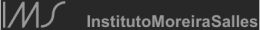É uma astúcia da história o fato de Fred Astaire ter nascido no interior norte-americano, de uma família austríaca, sob o pomposo e napoleônico nome de Frederick Austerlitz n. Não apenas porque o musical de Hollywood deriva diretamente da opereta vienense, mas também porque duas concepções aparentemente inconciliáveis da dança − a valsa e o sapateado − parecem confluir em seus movimentos e em sua própria conformação física.
A valsa foi, até o século 18, uma dança humilde, camponesa. A revolução francesa é que a introduziu nos salões, para substituir o nobre minueto − composto, como diz o próprio nome, de movimentos miúdos, minuciosamente codificados, patrimônio exclusivo da educação aristocrática. Valsar, ao contrário, é agarrar o parceiro e sair rodopiando, em um movimento simples e fluente: é a atitude do homem natural, de inspiração iluminista, capaz de manifestar seus sentimentos imediatamente, com graça despreocupada. É também, por isso mesmo, um sinal de mobilidade e fusão das classes. Durante uma valsa, apoiando a cabeça no peito de seu nobre parceiro, madame Bovary sonha com a ascensão social; com uma valsa, o príncipe de Salina cede seu lugar na sociedade à burguesa e irresistível nora, no final de O leopardo, de Luchino Visconti. A valsa é a dança da liberdade, da união de dois corpos que saem voando, livres de todas as amarras − ainda que, na versão vienense do fim do século 19, tenha se reduzido a uma liberdade doméstica, de fim de semana.
O sapateado, diz a lenda, foi inventado pelos escravos negros, quando proibidos de usar seus tambores. Teria, então, uma origem parecida com a capoeira, que também, ao que dizem, foi inventada por escravos, proibidos de lutar entre si. Os dois casos fincam raízes em culturas africanas, nas quais a dança não tem um lugar claramente separado de outras atividades comuns: caça, rito, competição. Mas essa indistinção associou-se, na cultura norte-americana, com a desconfiança calvinista em relação a todas as atividades improdutivas: o sapateado não é um abandono às pulsões do corpo, ao contrário, é execução de uma tarefa, redutível a valores quantitativos. Gera padrões rítmicos mais ou menos densos, mais ou menos complexos, que podem ser analisados independentemente dos movimentos que os produzem (numa gravação, por exemplo). É a dança industrial por excelência: não à toa, seu auge coincide com a primeira metade do século 20, a época de ouro do taylorismo. É rigorosamente planificado − não mais, porém, como o minueto, na base de códigos imutáveis e exclusivos, mas a partir da criatividade de cada um (todo tap dancer inventa seus passos), sob a condição de que o resultado seja algo facilmente reconhecível e avaliável. Ganha o mais inventivo, que é também o mais produtivo. E é uma dança feita para ser exibida, não para ser vivida como ocasião de relacionamento erótico ou social.
O milagre de Fred Astaire foi ter conseguido conciliar esses dois ideais aparentemente contraditórios da revolução burguesa: a dança como liberação do indivíduo e como trabalho, atividade produtiva. Sua obsessão pelos ensaios é mítica: qualquer gesto, não apenas os passos de dança, era repetido à exaustão. Seu corpo, objetivamente, era desgracioso: pernas muito magras, ombros caídos, mãos enormes, e aquela estranha cabeça. Mas foi reduzido à elegância pelo controle ferrenho de cada detalhe: a maneira de colocar a mão no bolso, por exemplo, ou a forma muito peculiar como gesticulava (Astaire nunca estendia completamente os dedos, desproporcionalmente longos, a não ser quando dançava). Tudo, nele, é evidentemente artificial, sem jamais se tornar afetado. Por um processo que ainda não foi explicado até o fim, e talvez seja inexplicável, esse esforço extraordinário de autocontrole se transforma nas maiores leveza e naturalidade já vistas numa tela de cinema.
Não tenho certeza, mas suspeito que a solução do enigma Fred Astaire esteja, pelo menos em parte, nos braços – ainda que, evidentemente, sua extraordinária perícia técnica repouse sobretudo nas pernas. A princípio, os braços seriam o problema, não a solução: muito longos, com mãos muito grandes, para ombros e tronco tão reduzidos. Mas Astaire encontrou uma postura para eles, nem em repouso nem em tensão, mas levemente afastados do corpo, apoiando-se sobre as coisas (sobre o encosto de uma poltrona, por exemplo, ou sobre o joelho) sem peso, como uma folha que cai –uma postura, enfim, que faz com que eles, em vez de pesarem sobre o corpo, o sustentem. Quando Fred Astaire põe a mão no bolso, parece uma gaivota dobrando asas. Justamente porque os braços geram essa sensação de levitação, não conseguimos identificar o ponto de apoio dos pés, a posição do baricentro. O diretor e coreógrafo Stanley Donen explorou magistralmente a capacidade de Astaire de esconder o ponto de apoio na cena de Núpciasreais (Royal Wedding, 1951), em que o faz dançar nas paredes e no teto. O sapateado deixa de martelar o chão e passa a deslizar sobre ele, com fluência nunca vista, mas a medida exata de cada movimento continua reconhecível. Em outras palavras, o sapateado escorre como uma valsa, e esta adquire as marcações milimétricas daquele. Se Chopin tivesse composto um boogie-woogie, seria algo parecido.
Joseph Epstein, em seu delicioso volume sobre Fred Astaire [veja capítulo na p. 89], sugere que o dançarino talvez seja o único aristocrata que os Estados Unidos tenham produzido, e do único tipo que poderiam produzir: o aristocrata democrata, low class mesmo, que alcança a nobreza por um processo de autoeducação. Concordo, mas discordo do corolário que segue: que a de Astaire seria a aristocracia do talento. Talento não tem nada a ver com aristocracia (dá para imaginar um Picasso ou um Marlon Brando aristocráticos?). O que Fred Astaire possuía, se tanto, é um extraordinário talento para a aristocracia, por essa forma específica de aristocracia democrática, que é ao mesmo tempo dândi e profissional, recatada e show business.
Aristocracia é, em primeiro lugar, nonchalance. Todo movimento de Astaire é despreocupação, falta de esforço. Mas, ao mesmo tempo, ele não nos deixa esquecer que, para ele, dança é trabalho. Não por acaso, muitas cenas de dança estão localizadas nos bastidores, no lugar de ensaio, ou diretamente no palco. Em todo caso, sempre que a dança ou o canto têm início, estampa-se em seu rosto um sorriso profissional, uma expressão distante que indica que aqui já não é questão de sentimentos, mas de exibição. A nonchalance aristocrática tem um preço: distância. É difícil não reconhecer o absoluto desinteresse que Fred Astaire nutria por sua parceira enquanto dançava. Os maldosos dizem que aquela com quem se sentiu mais à vontade, em toda a sua carreira, foi o cabide com que contracena no número do ensaio no navio, ainda em Núpcias reais. Faz sentido: embora muitas delas tivessem competência para acompanhá-lo − e uma, pelo menos (Judy Garland), tanta presença cênica quanto ele –, é evidente que ele as considerava apenas um adereço de cena.
O fato é que a performance de Astaire, mesmo quando está apenas atuando, exige tal concentração, tal estilização de gestos e expressões, que uma verdadeira troca é impossível. Sempre que é enquadrado junto com outras pessoas, parece estar num planeta diferente delas, com uma força de gravidade menor. O olhar é de quem não enxerga ninguém, mas acena (da porta de um avião ou da janela de um carro) para quem, supostamente, deveria estar do outro lado. Sua educação é impecável, os gestos são de uma discrição exemplar, mas, por isso mesmo, não tocam nada, parecem se interromper antes mesmo de estabelecer um contato real.
Astaire é o exemplo mais perfeito e completo de uma humanidade cinematográfica, que existe apenas no brilho da tela. Ele nunca representa realmente o homem apaixonado, ou o rapaz simpático, apenas nos propõe a ideia abstrata, o esquema formal do homem apaixonado ou do rapaz simpático. Sua aristocracia é a intangibilidade da imagem em relação à coisa. Conseguiu, não por truque de câmera, mas com esforço atlético incomum, fazer desaparecerem seus músculos e tendões, torná-los tão leves quanto o raio de luz do projetor. É livre, porque desliza sobre o chão em que nós afundamos. Mas é uma liberdade que não podemos alcançar, embora seja tentadora: a que nos separaria de todo peso, de todo sentimento, até de todo raciocínio. A identificação plena com uma tarefa sem significado nem fim, a não ser sua própria perfeição: um passo, um gesto. Ninguém sabe o que Fred Astaire pensava. Não deixou nenhuma pista, nenhum ato falho. Talvez não pensasse mesmo, apenas voasse.