Todo lado tem dois lados
por RODRIGO NUNES
Do que estamos falando quando falamos de “polarização” na política brasileira? Neste ensaio, publicado em março de 2020, Rodrigo Nunes rastreia as origens do termo no debate político dos EUA e sua distorção no Brasil desde as manifestações de 2013, passando pelo impeachment de Dilma Rousseff e pela eleição de Jair Bolsonaro. O que acontece no país não é uma disputa entre dois polos simétricos, ele avalia: “Foi a direita que mudou o centro de lugar”.
Em abril de 2020, Rodrigo Nunes analisou o impacto do coronavírus na política brasileira, no vídeo “Pandemia e polarização“. Na entrevista, ele analisa a radicalização do governo Bolsonaro, o posicionamento da imprensa durante a crise e os ativismos possíveis em tempos de quarentena: “Se as condições atuais obrigam a maioria da população a escolher entre se proteger do vírus ou proteger o emprego, o que está errado são as condições atuais”, diz Nunes.

Rodrigo Bivar, “Emerson 2” (2018)
A noção de “polarização” tornou-se uma explicação tão abrangente que muitos já se perguntam se ela explica algo de fato, e o quê. É inegável que ela parece captar uma verdade sobre nosso tempo. Das redes sociais à política eleitoral, observamos por toda parte processos do tipo que Gregory Bateson descreveu como cismogênicos, em que grupos respondem às ações uns dos outros com reações que consolidam gradualmente não apenas a identidade de cada um deles, mas sua oposição mútua e sua compreensão recíproca como únicas alternativas possíveis num espaço bipartido.1 Ao mesmo tempo, é precisamente porque processos de polarização estão por toda parte que o termo pode ser enganoso. Afinal, nada garante que se esteja falando sempre da mesma polarização ou identificando os mesmos polos com a mesma relação entre eles. O risco de confusão é ainda maior porque, num ambiente polarizado, é de esperar que as realidades percebidas a partir de diferentes perspectivas divirjam a ponto de serem praticamente incompatíveis; e porque acusar um adversário de radicalização ou situar-se fora do que se identifica como dois extremos são movimentos estratégicos naturais no interior de um tabuleiro atravessado por uma ou mais polarizações.
E se o diagnóstico corrente de que atravessamos um momento de polarização confundisse, na verdade, duas polarizações distintas (ou três, conforme se conte)? E se essa confusão fosse ela mesma vantajosa para alguns dos responsáveis pelo cenário polarizado? Para desfazê-la, precisaríamos remontar à entrada do debate sobre polarização no Brasil, distinguindo usos do conceito que remetem a análises com pressupostos, genealogias e consequências diversos. Entender a maneira como essas análises se cruzam nos ajudaria, então, a desfazer a ambiguidade que as cerca e atacar, finalmente, o problema que esse diagnóstico coloca: o que fazer diante de um quadro de polarização?
A POLARIZAÇÃO ENTRA EM CENA
No Brasil, o discurso sobre a polarização começa a consolidar-se em 2014, registrando um debate corrente na ciência política norte-americana que recupera, por sua vez, uma análise feita originalmente nos anos 1980. Já em 1984, Poole e Rosenthal indicavam que as eleições nos Estados Unidos se tornavam, cada vez mais, disputas entre “duas coalizões opostas, a liberal e a conservadora, ambas com posições relativamente extremas”.2
Diante disso, quem passava a ser mal representado era o eleitor “nem lá nem cá” [middle-of-the-road], que eles viam não como “membro de uma maioria silenciosa desejosa de uma transformação social radical, mas um indivíduo moderado buscando evitar mudanças bruscas”.3 Em 2006, quando os mesmos autores se juntaram a Nolan McCarty para escrever o livro Polarized America: The Dance of Ideology and Unequal Riches, eles ofereciam três critérios para identificar a polarização: a redução da política a dois campos, o liberal e o conservador; o desaparecimento progressivo de posições intermediárias; e a associação desses campos a cada um dos partidos que dominam o sistema político norte-americano (o Democrata e o Republicano). Além de descrever o aprofundamento da tendência observada no início dos anos 1980, o livro sugeria uma relação circular entre polarização e desigualdade, que diminuíram juntas entre 1913 e 1957 e voltaram a crescer a partir de 1975.
O retorno dessa questão durante o governo Obama (2009-2016) tinha razões evidentes. Em que pese o então presidente ser um centrista convicto e contemporizador nato, ele encontrara, no Congresso, uma oposição republicana indisposta a negociar qualquer coisa; e, no Tea Party, um movimento com enraizamento popular – e abundante financiamento corporativo – que cobrava de seus representantes posições mais e mais à direita. É então que o substantivo “polarização” ganha um qualificativo importante: “assimétrica”. Não era apenas que a distância entre liberais/democratas e conservadores/republicanos estivesse crescendo, conforme apontava um abrangente estudo de 2014.4 Ela crescia eminentemente por causa da radicalização do campo conservador, que deixava para os liberais a responsabilidade (e o ônus) de buscar compromissos. Como resumiram na época dois pesquisadores que não se poderia suspeitar de ter simpatias esquerdistas: “Vamos dizer de uma vez: o problema são os republicanos”.5
Foi nesse contexto que a discussão norte-americana chegou ao Brasil. Sua importação está ligada à constatação de que, pós-junho de 2013, um processo iniciado alguns anos antes começava a render frutos: uma nova direita, mais radical e organizada, estava surgindo no país. Numa entrevista de 2014, Paulo Arantes chamava a atenção para a formação de um campo político “que não está mais interessado em governar” – pelo menos não para todos – e que podia assim “se dar ao luxo de ter posições nítidas e inegociáveis”.
A lenga-lenga do Brasil polarizado é apenas uma lenga-lenga, um teatro. Nos Estados Unidos, democratas e liberais se caracterizam pela moderação – como a esquerda oficial no Brasil, que é moderada. O outro lado não é moderado. Por isso a polarização é assimétrica.6
Verdade seja dita, a assimetria não era consenso nos Estados Unidos, e alguns comentadores pretendiam dividir a culpa salomonicamente entre os dois lados.7 O próprio dissenso sobre o tema pode ser entendido como sintoma e instrumento da polarização. “Sintoma”, pois quanto mais uma pessoa se identifique com um extremo do espectro, mais ela tenderá a construir essa identidade de modo totalizante, relacionando-se com iguais, informando-se a partir de certas fontes, percebendo o espaço político como bipartido, e o lado oposto, de maneira monolítica. Isso fará com que tudo que fuja à sua própria norma pareça “radical”, e que a simples participação do outro (mulheres, negros, pessoas trans etc.) no debate público possa ser experimentada como ofensiva. “Instrumento”, porque acusar os adversários de assumirem posturas radicais oferece a quem acusa um pretexto para a própria radicalização.
Por boa-fé ou má-fé, a imprensa norte-americana provaria ser altamente suscetível a esse tipo de manipulação, expondo um calcanhar de Aquiles que a nova direita mundial exploraria mais e mais nos anos seguintes. O reflexo jornalístico de “contar os dois lados da história” mesmo quando as declarações de um lado não têm nenhum lastro na realidade faz com que os veículos ajudem manipuladores a criar uma falsa aparência de simetria que é instrumental para quem se alimenta da polarização. A redução da economia da informação à caça desesperada de cliques, por outro lado, favorece declarações extremas e a construção de personagens “polêmicos” cujos desmentidos e pedidos de desculpa nunca receberão tantos compartilhamentos quanto as manchetes de impacto. Some-se a isso o fato de que a internet permite a qualquer um publicar qualquer coisa a quase nenhum custo e o despreparo do público para distinguir fontes confiáveis de suspeitas, e o ecossistema comunicacional pós-redes sociais estava claramente à mercê de quem tivesse a estratégia e os recursos para explorá-lo. Na polarização dos anos Obama já se começava a vislumbrar o que ficaria cristalino com as vitórias do Brexit e de Trump: o modo como as notícias são produzidas e consumidas hoje em dia privilegia quem não tem nenhum pudor em mentir.
Pouca gente, porém, duvidava da conexão entre a polarização da política norte-americana neste século e um processo iniciado na década de 1980, que ganharia em 1991 o nome definitivo de “guerras culturais”.8 Não surpreende, portanto, que esse termo tenha entrado em circulação no debate brasileiro na época da polarização, num artigo que anunciava já no título sua análise da grande novidade pós-2013: as “guerras culturais no Brasil”.9 O texto não mencionava o debate sobre o caráter assimétrico da dinâmica polarizadora, mas reconhecia que a iniciativa até ali estivera predominantemente com um dos lados da disputa. Lia-se ali que “não há unanimidade sobre o que teria dado início às guerras culturais”, mas “parece claro que quem reorganizou o discurso político nesses termos foram os conservadores e que os progressistas ainda precisam se adaptar ao novo terreno de disputa discursiva”.10
Essa suspensão de juízo em relação às origens e causas da transformação fazia com que ela aparecesse como um fenômeno misterioso, algo que acontecera à política em vez de ter sido produzido por ela. “A relação entre discurso moral e político não é nova. […] Antes, porém, o discurso moral era instrumentalizado pelo político, e agora parece que ocorre o contrário.”11 A mesma tendência de fazer das “guerras culturais” uma mudança epocal chegada como que “de fora”, suplantando a política e a tornando obsoleta, aparece numa análise recente das eleições britânicas. “Enquanto o foco principal da política eleitoral eram as questões econômicas”, escreve Yascha Mounk, “os líderes do Partido Trabalhista podiam manter coesa uma ampla coalizão… Mas nas últimas décadas os lados do debate político passaram a alinhar-se menos em termos de política econômica e mais segundo o que poderíamos chamar de questões culturais, como a imigração e, claro, o Brexit.”12
A CONTINUAÇÃO DA POLÍTICA POR OUTROS MEIOS
Até onde se sustenta, no entanto, essa aparência de uma insondável inversão na relação entre moral (ou cultura) e política? É verdade que o conservadorismo começa a reorganizar-se como força política nos Estados Unidos já nos anos 1960, respondendo a processos como a revolução sexual, o movimento pelos direitos civis, o feminismo e a contracultura. Mas é verdade também que essas questões nunca foram simplesmente “de costumes”. Nem para a New Left, que pretendia pensar as relações de poder para além das instituições e concebia o pessoal como político; nem para os conservadores, que buscavam politizar essas questões criando aquilo que Laclau e Mouffe batizaram de “cadeias de equivalência” entre, por exemplo, mães solteiras negras recebendo benefícios sociais e a perda de oportunidades para trabalhadores brancos.13 O modelo do populismo de direita contemporâneo está menos na Europa dos anos 1930 que na “estratégia sulista” de Kevin Phillips, o assessor de Richard Nixon que mobilizou o ressentimento dos eleitores do sul dos Estados Unidos para construir uma base social que se mantém republicana até hoje. “Baseada em enclaves universitários”, Michael Kazin escreveria mais tarde, “a New Left continha pouca gente capaz de entender a mistura de inveja e indignação que informava a resposta dos brancos menos privilegiados às revoltas nos guetos e protestos contra a Guerra do Vietnã.”14
Nos anos 1970, quando o Estado de bem-estar social entrou em crise e a passagem para o regime de acumulação pós-fordista produziu desindustrialização e precarização em massa, a deterioração das condições de vida em geral, e da “classe trabalhadora branca” em particular, tornou o terreno ainda mais fértil para esse tipo de operação. Nos Estados Unidos, os anos 1980 viram o casamento entre evangelistas conservadores em defesa dos family values e o Partido Republicano liderado por Ronald Reagan. Enquanto um lado buscava influência política, o outro procurava uma base popular para seu programa de reformas neoliberais. Stuart Hall identificou uma tendência similar no projeto thatcherista, embora a maior laicidade da sociedade britânica fizesse com que ela se expressasse predominantemente em termos de segurança pública (law and order), raça e imigração.15
Mas a convergência da defesa da liberdade econômica com valores tradicionais também não foi arbitrária. Como Melinda Cooper mostrou brilhantemente, a família interessa ao neoliberalismo como rede de segurança capaz de assumir funções que anteriormente cabiam ao Estado (educação, saúde, bem-estar), como contrapeso às tendências desagregadoras do capitalismo desregulado, como instituição de disciplinamento e internalização da autoridade, e como elemento de um mecanismo argumentativo de privatização da responsabilidade (o fracasso individual é culpa do indivíduo ou da família, nunca de estruturas sociais desiguais).16 Ademais, como argumentou recentemente Wendy Brown, o próprio Hayek já via a tradição como um valor em si na medida em que, como o mercado, ela seria uma ordem espontânea que resiste às demandas por justiça social de diferentes grupos que, se acolhidas, implicariam uma limitação da livre competição.17
Em todo caso, a origem tanto da polarização assimétrica quanto das guerras culturais está aí: uma foi ao mesmo tempo instrumento e consequência da outra. Dito de outro modo, as guerras culturais nunca representaram o substituto da luta política, embora a muitos interessasse que fossem assim pensadas. A moral foi o campo em que a disputa política foi continuada por outros meios, assim como a política institucional tornou-se o terreno onde questões culturais passaram a ser disputadas.
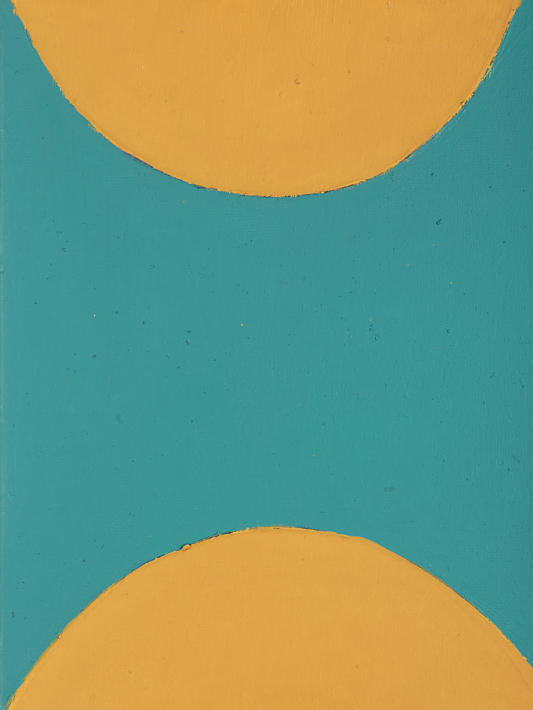
Rodrigo Bivar, “Emerson 2” (2018)
DO “NEOLIBERALISMO PROGRESSISTA” AO “GLOBALISMO”
Mas isso não conta toda a história. Se é fato que a moral e a cultura não substituíram a política, elas foram a forma que a política tomou quando se subtraiu do debate político a disputa pela economia como instrumento de organização de projetos distintos de sociedade. É isso que ocorreria nos anos 1990, quando a hegemonia neoliberal se consolidaria na chamada Terceira Via: partidos oriundos da social-democracia que aceitavam a irreversibilidade de processos como desregulamentação financeira, offshoring e o aumento da desigualdade, e se propunham apenas a administrá-los em seus riscos e excessos, dando-lhes uma “face humana”. Na medida em que representou uma capitulação ao credo econômico de Reagan, Thatcher e Pinochet, a eleição de figuras como Clinton, Blair e Schröder marcou também o surgimento de uma variante interna do projeto neoliberal.
Na descrição de Nancy Fraser, o que esses governos ofereciam era um neoliberalismo progressista, neoliberal quanto à política distributiva, mas progressista na sua política de reconhecimento, por oposição a um neoliberalismo conservador, cuja política distributiva era igualmente “expropriativa e plutocrática”, mas que não proporcionava as mesmas possibilidades de ascensão “meritocrática” aos membros de “grupos sub-representados” como mulheres e minorias étnicas.18 No lugar de valores tradicionais, o neoliberalismo progressista promovia o multiculturalismo, a igualdade entre gêneros, a diversidade sexual, um mundo “pós-racial” e um ambientalismo mediado pelo mercado. Também para ele, portanto, a aparência de uma substituição da política pela cultura era instrumental: ao polarizar com a aliança entre neoliberalismo e conservadorismo no terreno dos valores, ele obscurecia o fato de que a reorganização integral da sociedade pelas forças do mercado permanecia fora de discussão. Em relação a esse ponto, efetivamente there was no alternative. Nos anos 1990 e 2000, autores como Chantal Mouffe e Jacques Rancière batizariam de “pós-política” esse consenso centrista que blindava a economia, reduzia a política à gestão e fazia da moral e da cultura os campos em que se confrontavam calibragens diferentes de uma mesma coisa.
Se por um lado essa estratégia facultou aos antigos partidos social-democratas uma aliança com movimentos sociais minoritários e uma classe média urbana de costumes liberais, ela acabou abandonando ainda mais a “classe trabalhadora branca” à própria sorte – e à pregação da extrema direita. O fato de que ambos os lados do espectro partidário agora apresentassem a política como essencialmente uma disputa em torno de valores culturais e que os outrora defensores do operariado houvessem abraçado o ideal de uma globalização cosmopolita facilitava o trabalho daqueles que diziam aos perdedores desse processo: “Vocês estão perdendo porque eles – mulheres, negros, gays… – estão ganhando”. Nisso, a ultradireita contou por décadas com a ajuda de uma imprensa que nunca se furtou a alimentar pânicos anti-imigrantes, por exemplo, e de políticos “moderados” sempre prontos a reciclar temas extremistas em troca de votos ou atenção.
A repetição da ideia de que grupos desprivilegiados existem em competição direta entre si, os ganhos de uns só podendo se dar às custas dos outros, lhe confere ares de evidência. Mas não estamos aí simplesmente diante de uma “mentira contada mil vezes” até tornar-se verdade. Num mundo em que é impossível imaginar condições econômicas diferentes das existentes, em que o fracasso é responsabilidade exclusivamente pessoal, e os ganhos dos mais ricos (“geradores de empregos”) são considerados intocáveis, a base da pirâmide social realmente se encontra envolvida numa luta de todos contra todos a maior parte do tempo. Frente à impossibilidade de botar as regras do jogo em questão, sobra um confronto de soma zero ressignificado como choque entre “culturas” ou valores morais.19
É desse caldo que emergirá o bicho-papão do “globalismo”, narrativa com a qual a extrema direita responsabiliza o neoliberalismo progressista tanto pelas perdas causadas por três décadas de globalização quanto pela crise mundial iniciada em 2008. “Globalistas”, nessa versão da realidade, não são os bancos e corporações que causaram a crise e se beneficiaram das condições que a tornaram possível, mas os estratos médios de valores cosmopolitas, a elite intelectual, os partidos que deram uma camada de verniz pluralista ao mercado desregulado e as minorias cujos interesses eles supostamente protegem.20 O grau de assimetria envolvido nessa formulação pode ser medido pelo fato de que, com ela, tanto uma das principais variantes do neoliberalismo quanto qualquer proposta de superação do projeto neoliberal são igualmente rotuláveis como “esquerda”. Ao mesmo tempo, em que pese uma ênfase renovada na pátria e na defesa nacional – projeção da luta de todos contra todos para o terreno da geopolítica –, o antiglobalismo demonstrou-se até aqui perfeitamente compatível com a desregulamentação financeira e do mercado de trabalho. Exceção feita a um uso bastante seletivo do protecionismo econômico, a extrema direita ascendente não se propõe a romper com o ideário e as políticas hegemônicos nas últimas quatro décadas, mas apenas a oferecer a uma suposta maioria (“população nativa”, “herdeiros dos valores judaico-cristãos”, “pessoas de bem”) uma vantagem competitiva sobre os demais.21
OS IDOS DE JUNHO
Nem bem irrompeu no debate brasileiro, o tema da polarização importado da ciência política norte-americana foi imediatamente cruzado com uma discussão bastante distinta. Em 2013, chegou ao Brasil a onda de protestos que, desde a Primavera Árabe em 2011, constituíra a reação da sociedade civil global à crise de 2008. Foi também quando aportou por aqui um discurso que se desenvolvera paralelamente a essas manifestações. O que ele atacava, sob o nome de “consenso centrista” ou “pós-política”, era justamente a falsa polarização entre neoliberalismos conservador e progressista que a reação à hecatombe financeira de alguns anos antes expusera. Ao transformarem as dívidas privadas dos bancos em dívida soberana, repassando seu custo à população na forma de corte de serviços e perda de direitos, governos de direita e de centro-esquerda haviam demonstrado defender os interesses do mercado acima de tudo. Progressistas ou conservadores, no frigir dos ovos eram todos neoliberais; como gritavam as ruas espanholas, no nos representan.
O fato de que, no Brasil, os protestos tenham acontecido antes que o grosso da crise eclodisse não alterava substancialmente a análise. O importante na comparação era que, como seus equivalentes na centro-esquerda global pós-2008, o PT tivera uma oportunidade histórica para encampar um pro- grama de reformas estruturais; mas não somente recuara, como dobrara a aposta numa estratégia de conciliação. Diante da irrupção de um sentimento antissistêmico informe, mas potente, a reação do partido consistira em isolar essa energia emergente em vez de tentar direcioná-la, desqualificando-a e apoiando sua repressão. Com uma mão, pactuava a reestabilização do sistema político com as forças à sua direita; com a outra, chantageava a esquerda acusando tudo que não fosse apoio incondicional de “fazer o jogo” da oposição. O objetivo dessa operação de fechamento do espaço que se havia aberto era claro: reconduzir a realidade pós-2013 às coordenadas políticas que junho embaralhara, forçando o retorno a uma situação em que a única polarização existente, logo a única escolha possível, era entre o PT e os partidos tradicionais de direita. Bem-sucedida em seu objetivo imediato de reeleger Dilma Rousseff, essa estratégia continha dois erros que custariam caro: associar ainda mais a imagem do partido ao establishment e deixar a pista livre para que a extrema direita se apresentasse como legítima depositária dos desejos antissistema.
Embora ambas falassem de “polarização”, as duas análises que se cruzaram nesse momento diferiam consideravelmente. O que preocupava os cientistas políticos norte-americanos era uma exasperação do sistema bipartidário que levava os dois principais partidos a divergir cada vez mais em termos de identidade e políticas, progressivamente eliminando as posições centristas tanto entre os políticos quanto entre os eleitores. O que se lamentava aí era a perda da razoabilidade, da cooperação entre adversários, de um middle-of-the-road concebido como reserva social de prudência e pragmatismo. Embora não seja difícil concordar que a abertura ao diálogo em nome do bem comum é uma virtude, o que esse discurso não parece jamais duvidar é que, em qualquer momento dado, é no centro do espectro político que estarão as soluções ideais. Tal crença só é possível na medida em que a ideia de “centro” opera aí num duplo registro. Por um lado, como o espaço intermediário do espectro político efetivamente existente num certo ponto; por outro, como o ponto de equilíbrio de uma razoabilidade ideal, aquilo que se supõe ser a escolha “normal” da maioria das pessoas, abstraídas influências como cultura, tradição e história. No fim, a queixa dos cientistas políticos norte-americanos contra a polarização é justamente que ela afasta o espectro político realmente existente desse centro ideal, trazendo à baila ideias irracionais e nublando a busca por aquilo que supostamente todas as pessoas de bom senso querem.22 A crítica da polarização é aí o protesto do centrista contra o fim daquilo que ele percebe como política “normal” – que, no limite, se confundiria com uma administração “neutra” das coisas e dos interesses.
A crítica da pós-política que explodiu nas ruas em 2011 contestava a própria ideia de uma política “normal”. Nessa visão, aquilo que o centrista faz é decalcar sua concepção do middle-of-the-road ideal a partir dos limites de sua imaginação política, erroneamente atribuindo às fronteiras contingentes da formação histórica em que vive (aquilo que parece razoável aqui e agora) um caráter absoluto e necessário (a razoabilidade enquanto tal). O que tal discurso denunciava é que a falsa polarização entre neoliberalismos progressista e conservador constituíra um centrismo que excluía de saída qualquer questionamento à concentração de poder político e econômico ocorrida desde os anos 1980, colocando-a fora do alcance da disputa entre projetos de sociedade e atribuindo-lhe ares de inevitabilidade. A artificialidade desse falso equilíbrio ficara evidente em 2008, quando a crise dinamitou suas condições de possibilidade e ainda assim nenhuma força política mainstream teve coragem de pô-lo em questão.23 Segundo essa análise, o problema não é a existência de polarizações em si, mas o fato de que uma oposição falsa pode esconder um antagonismo verdadeiro, como aquele entre os que se beneficiaram da crise e os que arcaram com seu prejuízo, o 1% e os 99%. Enquanto Poole e Rosenthal explicitamente rejeitavam a hipótese de uma “maioria silenciosa desejosa de uma transformação social radical”, aquela análise sugeria que, se tal maioria ainda não existia, as condições eram propícias para criá-la – e fazê-lo passava por criar outra polarização entre “nós” e “eles” que facilitasse a formação de um novo consenso social.24
Não à toa, a recepção dessa discussão no contexto brasileiro será, de saída, inseparável de algo que se poderia no- mear “hipótese da terceira força”: a ideia de que somente uma mobilização transversal à polarização entre PT e oposição, como fora aquela de 2013, seria capaz de destravar o impasse em que o país havia entrado.25 É da tentativa de extrair consequências práticas dessa hipótese numa conjuntura volátil que nasce a figura que será pejorativamente batizada de “isentão”; e pode-se dizer que há tantos tipos de isentão quanto houve tentativas.
Para alguns, essa “terceira força” só poderia vir de baixo para cima, da mesma sociedade civil (des)organizada de que brotara a algaravia de junho. Incapazes de conjurá-la com suas forças, eles só chegariam perto de testar essa conjetura com o movimento secundarista de 2016 (tendendo mais à esquerda) e a greve dos caminhoneiros de 2018 (tendendo mais à direita). Em todo caso, o inimigo principal para estes era o retrocesso em relação às conquistas da década anterior, fosse pelas mãos do PT ou de seus adversários; por isso, opuseram-se tanto ao governo de Dilma Rousseff quanto a seu impeachment. Já outros, descrentes das perspectivas de mobilização social, apostaram na possibilidade de construir uma terceira posição de cima para baixo e viram na candidatura de Marina Silva o veículo para isso. Quando Marina sucumbiu às próprias contradições e a uma violenta propaganda petista, eles passaram a enxergar na pauta anticorrupção um potencial atalho. Ao constatarem que não tinham condições de disputar as ruas com o MBL e o Vem Pra Rua, alguns ainda depositaram suas fichas na Operação Lava Jato, identificada como a única força capaz de atuar de forma independente naquele cenário. Fracassada mais essa aposta, sobraria a eles fazer da polarização petismo/antipetismo não um obstáculo tático, mas o grande inimigo estratégico: mais que as políticas de austeridade ou a ascensão da extrema direita, era ela que se tinha de combater. Se o fortalecimento das políticas de austeridade ou a ascensão da extrema direita fosse o preço a pagar por isso, tanto pior.
Confundir os dois discursos sobre a polarização fizera parte da estratégia petista de fechar o espaço disponível à sua esquerda desde o início; a entrada em pauta do impeachment em 2016 aceleraria esse processo. Diante de uma oposição que resolvera ignorar os acordos tácitos que sustentavam o sistema político e derrubar o governo, os petistas acusavam a crítica da polarização de lavar as mãos perante uma situação em que só havia dois lados. (“Isentão” referia-se originalmente a quem, fosse contra ou a favor do impeachment, recusava essa bipartição.)26 Como poderia a polarização entre petismo e oposição ser falsa, se um dos lados claramente entrara numa radicalização assimétrica contra o outro? A ironia é que, a partir de deter- minado momento, essa operação contaria com o apoio de parte do campo dito “isentão”. Para estes, que buscavam construir um novo espaço político para si, a equivocidade do termo “polarização” servia para construir pontes com setores para quem o problema do PT não era a moderação, mas o “radicalismo”, e cuja noção de política se aproximava do centrismo neoliberal. Fosse para isolá-lo da esquerda, fosse para torná-lo mais palatável ao centro, ambas as partes tiveram interesse em associar um discurso oriundo da crítica da pós-política, que apostava na existência de um potencial para a construção de um projeto de radicalização democrática, com um apelo centrista ao “bom senso”. Pelo menos nessa ocasião, os “contra o golpe” e os “contra a narrativa do golpe” estiveram do mesmo lado.27
Não há, no entanto, nada de necessário nessa confusão. É perfeitamente possível dizer que o impeachment foi a expressão de uma polarização assimétrica entre uma oposição rumando para a direita e um PT cada vez mais ao centro; e que justamente por isso essa polarização distorcia e falseava o real antagonismo entre a elite econômica, que se preparava para transferir os custos da crise integralmente aos mais pobres, e uma classe trabalhadora cujos interesses não eram defendidos naquele momento por ninguém. Do mesmo modo, é perfeitamente possível afirmar que essa polarização funciona como obstáculo para a busca de melhores soluções sem supor que essas soluções sejam necessariamente o meio-termo entre os “extremos” existentes. Basta, para isso, supor que as forças que se opõem no interior do sistema político não representam adequadamente o conflito de interesses existente na sociedade, ou que o ponto de equilíbrio entre elas é inviável – seja porque leva a efeitos indesejáveis a médio e longo prazo, seja porque supõe condições de possibilidade que não estão mais dadas.
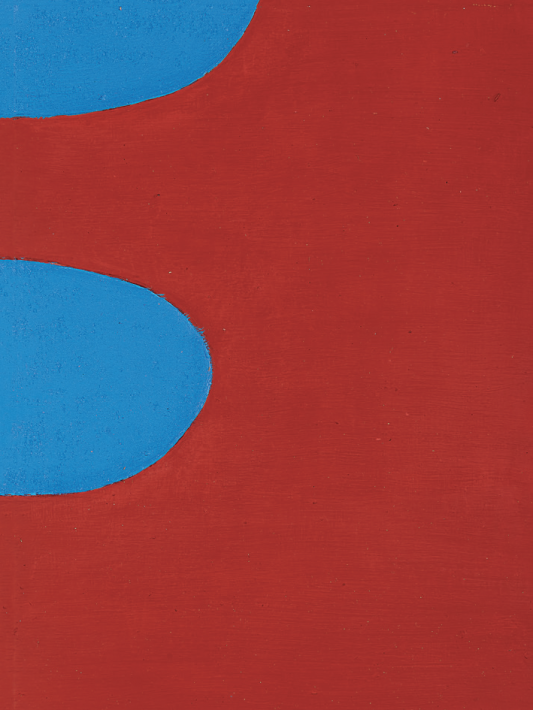
Rodrigo Bivar, “Emerson 4” (2018)
POR UM LADO, HÁ DOIS LADOS; POR OUTRO LADO, NÃO
O interesse que a ideia de polarização adquiriu é obviamente derivado das consequências práticas que ela pode ter. Particularmente para a esquerda, seu pano de fundo é a questão sobre o que fazer diante do crescimento da extrema direita: caminhar para o centro a fim de construir alianças? Ou responder à radicalização com uma postura igualmente radical? É aqui que é preciso ter toda a clareza sobre que polarização está em questão, quem ocupa seus polos, se ela é simétrica ou assimétrica, onde está o seu centro.
No Brasil atual, ninguém – certamente não os bolsonaristas – tem dúvida de que quem ocupa um dos extremos é a extrema direita. É em relação ao lado oposto que as versões variam. Uma delas situa a esquerda como um todo, e o PT em especial, no polo contrário, e demonstra essa tese estabelecendo equivalências entre fenômenos como ameaças de medidas autoritárias por parte de governantes e comoções espontâneas nas redes sociais.28 A extrema direita, por sua vez, concorda que seu adversário seja a esquerda. O problema é que “esquerda” é para ela um rótulo infinitamente elástico, que acomoda de anticapitalistas a neoliberais insuficientemente conservadores e inclui potencialmente qualquer um que venha a ser considerado inimigo.
É evidente que há aí duas operações de polarização distintas. A primeira é claramente assimétrica, em que um dos lados assume posições extremas a fim de atrair para sua direção o centro do debate e jogar para o outro lado toda a responsabilidade por negociar compromissos. A extrema direita pode fazer isso porque abertamente não pretende governar para todos. Ela de- seja apenas consolidar uma base radicalizada suficientemente grande para manter sua força eleitoral, e confia que, na hora H, os centristas sempre optarão por ela em vez da esquerda. A segunda polarização é, por assim dizer, contra os polarizadores: uma operação retórica pela qual alguns agentes simetrizam os dois polos como igualmente extremos, jogando-os de um lado do espectro, e situam-se do lado oposto como única alternativa. Não o fazem, no entanto, em nome das opções que a polarização existente estaria deixando de fora do espectro político, tal como os indignados espanhóis; mas para se posicionarem como porta-vozes, pragmáticos e de bom senso, do meio-termo que foi perdido.
Mas que meio-termo é esse hoje? Para responder, é preciso começar lembrando qual foi o centro do espectro político brasileiro de meados dos anos 1990 até recentemente: uma combinação dos “três pilares” da gestão macroeconômica neoliberal com políticas distributivas e de reconhecimento mais ou me- nos arrojadas conforme o estado da economia e a permeabilidade à pressão social. Em outras palavras, um neoliberalismo mais progressista ou conservador conforme a oportunidade. A primeira pergunta é: o que fez com que este deixasse de ser o centro? É verdade que o tripé macroeconômico foi relativizado pela política de incentivos ineficiente e concentradora de renda do governo Dilma; mas quando foi derrubada, ela já havia voltado à ortodoxia e abraçado o ajuste que renegara durante a campanha. Dilma não caiu por prometer medidas radicais, mas porque a elite viu na conjunção da crise econômica com a desmoralização do PT uma oportunidade histórica para “recontratar” o “contrato social da redemocratização”29 unilateralmente, sem precisar negociar com a esquerda, os movimentos sociais ou a classe trabalhadora. Embora atiçasse a militância com floreios retóricos, em momento nenhum o PT propôs nada que fugisse ao até então admissível; foi a direita que mudou o centro de lugar30. O erro de cálculo foi que, em vez de reestabilizar o sistema, a manobra acabou por impulsionar a extrema direita; sem candidatos próprios viáveis, vários autodeclarados “liberais” não hesitaram em apoiar Bolsonaro explícita ou tacitamente. É por isso que, na boca de alguns, a narrativa que culpa a esquerda pela ascensão da extrema direita acaba soando à tentativa de desresponsabilizar-se pelas próprias decisões, a queixa de quem cobra: não nos obriguem a apoiar o protofascismo novamente.
Quais foram as condições materiais que tornaram o antigo centro possível, especialmente sua inflexão mais progressista durante os governos petistas? Qualquer resposta passa necessariamente por três pontos: um acordo tácito pela estabilidade institucional pós-democratização (o que incluía uma alta tolerância à corrupção); a existência de um grande partido de esquerda, cujas administrações gozaram de alta popularidade; e o ganha-ganha produzido pela bonança das commodities, que permitiu a promoção de políticas redistributivas sem mexer nos lucros do capital. Nenhuma dessas condições está presente hoje. Vivemos tempos de crescimento baixo e cenário global incerto, e o PT, ainda que continue forte eleitoralmente e hegemônico sobre a esquerda, tornou-se divisivo demais para eleger um presidente da república. A facilidade com que a elite embarcou nas aventuras do impeachment e do bolsonarismo demonstra um compromisso muito baixo com as instituições, a negociação e o compartilhamento de poder. O próprio esforço constante para distinguir o “lado bom” do governo Bolsonaro (o ultraliberalismo de Paulo Guedes) de seu “lado ruim” (as tendências antidemocráticas em sentido amplo) sugere que ela está satisfeita, e preferiria apenas não ter que lidar com intermediários tão voláteis e pouco confiáveis. Por fim, o debate econômico vive um processo de polarização assimétrica próprio, e está cada vez mais poluído por liberais de manual, para quem medidas corriqueiras em outras partes do mundo são não só “socialistas”, mas o primeiro passo numa escalada totalitária cujo destino inevitável é a Coreia do Norte.
Logo, se por “centro” se entende uma espécie de média aritmética das posições políticas disponíveis e seus pesos relativos, é preciso ter claro que este se encontra hoje mais à direita que em qualquer momento desde a redemocratização. É evidente que, a curto e médio prazo, a esquerda deve buscar alianças pontuais para minimizar os danos que o governo Bolsonaro pode causar às instituições e à população, especialmente a mais fragilizada. Mas esses são diálogos a se fazer em cima de pontos específicos e sem esquecer que a experiência recente fornece bons motivos para duvidar do compromisso de nossas elites, “centristas” e “liberais” incluídos, com a democracia. Por outro lado, a ideia de uma “busca pelo centro” abstrata, sem definir qualquer conteúdo em particular, não só ignora que o centro mudou de lugar, mas esquece duas verdades elementares: negociar é algo que se faz em cima de coisas concretas e tendo definido limites inegociáveis; e ninguém negocia com quem não tem nada para negociar. Sem força eleitoral e/ou hegemonia social, a esquerda não tem nenhum trunfo que obrigue a direita a conversar, e esta penderá naturalmente na direção de quem tem – hoje, a extrema direita. Sem tocar nesse ponto fundamental, a defesa abstrata do centrismo acaba sendo pouco mais que a nostalgia por um pacto lulista que deixou de ser possível, uma incapacidade de pensar a política para além do jogo eleitoral ou uma resignação ao atual horizonte de possibilidades capaz, no máximo, de pôr a esquerda como sócia minoritária de um estado de coisas cujo custo social e ambiental só tende a crescer.
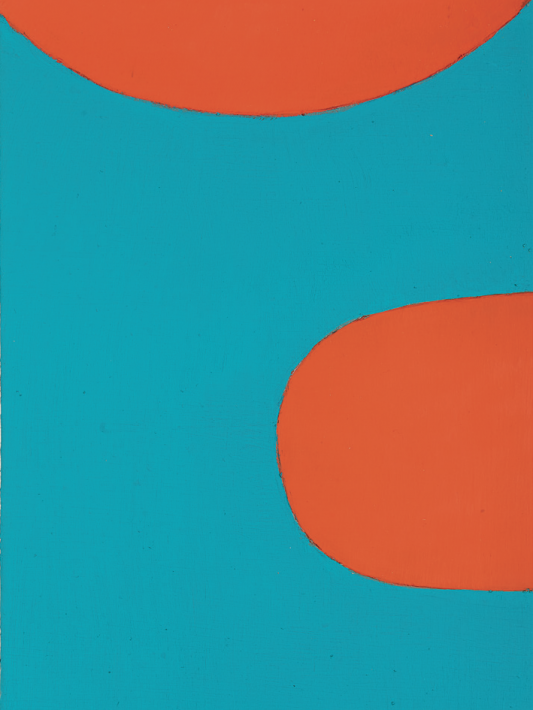
Rodrigo Bivar, “Emerson 3” (2018)
NARCISO ACHA FEIO
Resta a outra opção: “radicalizar”. Mas o que isso quer dizer? Talvez possamos começar por aquilo que não quer dizer. É aqui que encontramos o grão de verdade contido na ideia de que a escalada da polarização é fruto da radicalização da esquerda.31
É fato que a esquerda passou por um processo de radicalização nos últimos anos. Como vimos, porém, não foi no terreno das propostas ou ações que isso se deu; foi no campo das identidades. Há várias razões para isso. Algumas são estruturais e comuns a diversos países, como a própria arquitetura das plataformas digitais, que reforça dinâmicas cismogênicas e favorece a formação de “bolhas” e “câmaras de eco”. Pode-se acrescentar a isso a popularização de um certo estilo de militância on-line para o qual as redes sociais funcionam como o instrumento, punitivista e um tanto aleatório, de produção temporária de uma justiça que os militantes não têm os meios políticos para transformar em condição estrutural e permanente.
Mas a crítica ao identitarismo feita aqui não se refere exclusiva ou mesmo preferencialmente às lutas e grupos ditos “identitários” (mulheres, negros, LGBT+…). Uma certa esquerda “anti-identitária”, com sua defesa do “universalismo”, dos “valores iluministas” e outros trejeitos estereotipados, é hoje uma particularidade tão particular quanto as identidades que contesta. Cada vez mais é a “esquerda” como um todo, para além das diferenças internas irrelevantes para quem é de fora, que funciona como identidade. No sentido em que estou empregando o termo, o identitarismo é uma prática em que a performance individual de um repertório fechado de ideias, shibboleths, palavras de ordem, referências, preferências estéticas, figuras de admiração e repulsa etc. diante de um público de pares é mais importante para definir um perfil militante que a atuação em espaços coletivos. Essa transformação, estimulada pela hipervisibilidade de uma vida social cada vez mais mediatizada, valoriza a afirmação abstrata de princípios acima do desenvolvimento da capacidade de aplicar esses princípios ao mundo, e a exemplaridade do comportamento pessoal acima do poder de intervir eficazmente no curso dos acontecimentos. Aliás, na medida em que a eficácia depende da capacidade de dialogar com quem é diferente, e a construção da identidade militante passa por demarcar constantemente as diferenças que a distinguem, não só a sobrevalorização da performance identitária tende a restringir o poder de intervenção política como, perversamente, essa restrição tende a ser experimentada como prova da própria superioridade. Por essa lógica, o problema não é que nós não consigamos mover os outros, mas que os outros não sejam sempre já como nós.
Essa cristalização da esquerda como conjunto de traços identitários é inseparável de duas dinâmicas discutidas acima. Por um lado, trata-se de uma resposta à polarização promovida pela direita: quanto mais a identidade de um lado se reforça, mais a outra tende a se afirmar, com todas as consequências (tribalismo, aumento do viés de confirmação, suscetibilidade a fake news…). Por outro lado, esse deslocamento para o terreno da cultura e dos valores atende, a partir dos anos 1990, à necessidade de dar coesão à ideia de esquerda na ausência de uma visão de longo prazo efetivamente distinta da economia de mercado e da globalização neoliberal. “Esquerda” passa a ser, então, a identidade de quem reconhece os direitos de minorias, acredita na separação entre religião e Estado, e entende sua missão como consistindo em controlar os excessos do mercado e dos conservadores. Ao contrário da história que a “esquerda anti-identitária” costuma contar, não foi porque passou a se preocupar com o “particular” (negros, mulheres, indígenas, gays…) que a esquerda abriu mão do “universal” (um projeto alternativo de sociedade); foi quando deixou de articular uma ideia própria do todo que ela preencheu o vazio com bandeiras particulares.32 Isso demonstra que a consolidação da esquerda como identidade e a tendência a deslocar-se para o centro não são contraditórios, antes podem facilmente ser complementares. À medida que o centro do debate se move à direita (o consenso sobre a intensificação dos controles de imigração, por exemplo), é perfeitamente concebível que um reforço da própria identidade (“eu estou com os imigrantes”) seja acompanhado de posições meramente mitigatórias (humanizar a intensificação dos controles). Uma polarização simétrica (no sentido batesiano) no campo das identidades é, assim, inteiramente compatível com uma polarização assimétrica no campo das ações efetivas.
O recurso à identidade como substituto de uma política substancial acentuou-se no Brasil depois das eleições de 2014 e, sobretudo, do processo de impeachment. Ao mesmo tempo que se dispunha a negociar o que fosse para salvar o mandato de Dilma, a direção do PT mobilizava a memória da ditadura e da redemocratização para regalvanizar uma base histórica que havia se afastado do partido. (É notável que, na iconografia da esquerda dos últimos anos, as duas imagens mais importantes sejam fotos de Dilma e Lula na década de 1970.) Mas o mesmo fenômeno identitário é observável, por exemplo, nas comunidades on-line que se formam em torno da revalorização, entre irônica e sincera, de figuras como Stálin e Mao.
Qual é o problema disso? Aqui encontramos o grão de verdade na concepção que faz do centro do espectro político um oásis de bom senso e pragmatismo. Para quem assume integralmente uma identidade política, esta se torna central para sua compreensão de si e do próprio valor.33 Mas a maioria das pessoas é movida por interesses, desejos, valores e opiniões que não são necessariamente nem constantes nem coerentes; é só quem possui uma identidade política altamente definida que faz da consistência da própria identidade um fator preponderante na tomada de decisões.34 Isso não significa que o “centro” corresponderá sempre ao mesmo tipo de política middle-of-the-road, nem que tenha sempre as melhores soluções; mas que as escolhas estão aí determinadas por outras motivações que não a identidade e são, nesse sentido, mais flexíveis.
A esquerda gosta de conceber a adesão segundo o modelo da conversão (o indivíduo assume um pacote completo de convicções) e do compromisso como desinteresse e sacrifício (um dever que se sobrepõe a qualquer interesse). Mas a conversão é um fenômeno raro, e o desinteresse normalmente exige uma liberdade diante de constrangimentos materiais que é mal distribuída numa sociedade desigual. A maioria das pessoas é motivada menos pelo sentimento de que determinados valores são moralmente corretos que pela capacidade que os valo- res têm de organizar sua vida e oferecer respostas aos problemas que elas enfrentam no dia a dia. Para convencê-las disso, a esquerda precisa ao mesmo tempo articular uma visão plausível de como elas poderiam viver melhor num mundo organizado de maneira diferente e uma noção dos passos pelos quais este mundo poderia, sem exigir sacrifícios muito maiores que os que elas já fazem hoje,35ser construído desde já.
Assim como “dialogar com o centro”, “radicalizar” de forma abstrata tampouco quer dizer grande coisa; o mais provável é que acabe significando apenas a radicalização da própria identidade. Mas exigir que as pessoas se convertam a identidades cada vez mais estritas ou abracem ideais cada vez menos tangíveis é receita para o isolamento. Não se trata de radicalizar na performance ou na afirmação de princípios genéricos, mas em ideias concretas. Isto é, na capacidade de construir alternativas que, sem temer dar respostas radicais aos problemas que se enfrenta, não deixam de comunicar-se com a realidade cotidiana da maioria das pessoas e parecem não somente mais sensatas e desejáveis que aquilo que se tem, mas efetivamente alcançáveis a partir das condições existentes.

Rodrigo Bivar, “Para ser nomeado” (2018)
RADICALMENTE RELACIONAL
A década que se inicia será um momento decisivo: uma janela estreita de oportunidade para evitar uma crise ambiental ainda pior, enfrentar a concentração de poder econômico e político acumulada desde os anos 1970, administrar o avanço da inteligência artificial e a transformação do trabalho de maneira a assegurar o bem-estar de uma população mundial crescente. Até aqui, no entanto, a reação dominante tem sido a de fechar olhos e ouvidos e repetir soluções que eram consenso há 20 anos: a uma crise mundial causada pela desregulamentação do mercado financeiro, responde-se com mais desregulamentação; à incapacidade do mercado de encontrar soluções para a crise ambiental, com mais soluções de mercado; à estagnação mundial da renda e ao aumento da desigualdade, com mais precarização e cortes de serviços públicos; a crises de arrecadação, com desoneração dos mais ricos e contenção de gastos. Para piorar, a ascensão global da extrema direita nos arrasta para ainda mais longe das discussões que deveríamos ter, conta- minando o debate com preconceitos e falsidades.
A maioria das vozes que se reivindicam “realistas” hoje repete dogmas de uma realidade que não existe mais. Desde a crise de 2008, não há perspectiva segura no horizonte global de um novo ciclo de crescimento econômico que produza empregos e reduza a desigualdade. As tendências apontam, pelo contrário, para um capitalismo de baixa produtividade, voltado à extração de renda, e um crescimento do desemprego estrutural. Além disso, a inescapável evidência da crise ambiental põe em xeque qualquer promessa de progresso infinito e os cálculos imediatistas de corporações e países.
Que este “realismo” esteja em descompasso com a realidade não significa que suas “soluções” não possam funcionar. Elas funcionarão, mas para uma parcela cada vez menor da população mundial. Buscar o meio-termo nessas condições é pior que inócuo: seguir fingindo que as coisas podem voltar a ser como eram é perder tempo precioso e garantir que em breve estaremos vi- vendo num mundo em que desastres naturais, conflitos sociais e repressão sem precedentes serão o novo normal. Eis algo que os liberais que realmente se preocupam com outras liberdades que não a econômica terão de entender rápido. Já a esquerda, caso deseje ter qualquer serventia no futuro, precisará propor soluções realistas para os problemas postos por essa nova realidade – por exemplo, o de fazer a transição para uma economia pós-carbono, pós-crescimento e pós-trabalho. Mas isso exigirá também redefinir aquilo que se entende por “realista” e “possível”.
Ironicamente, a ciência política não deu à ideia de que o limite do possível é maleável o nome de um líder revolucionário, mas o de um ideólogo da direita libertária norte-americana.36 Para Joseph Overton, em qualquer momento dado há uma quantidade finita de políticas que a maioria da população considera aceitável. Uma vez que políticos de todas as colorações partidárias desejam continuar elegíveis, esse leque restrito de opções delimita aquilo que eles considerarão politicamente viável. Essa é a chamada “janela de Overton”, e é a ela que o realista vulgar se refere quando, diante de uma polarização assimétrica do lado contrário, começa a abrir mão de suas convicções e rumar para o centro. A diferença de Overton para o realista vulgar é que ele entendia essa janela em termos dinâmicos. Fazer com que ideias antes tidas por absurdas virassem mainstream era o modo de forçar o sistema político, movido pelo instinto de sobrevivência, a adotá-las. Mover a janela – isto é, transformar o limite do possível – é o objetivo mesmo da política. E é exatamente isso que temos visto nos últimos anos, embora, infelizmente, sobretudo à direita: comportamentos, declarações e políticas até bem pouco tempo impensáveis têm se tornado cada vez mais corriqueiros.
Para constituir um novo realismo, porém, a esquerda precisará de mais que a visão atraente de um futuro alternativo e ideias plausíveis de como alcançá-lo. Ela precisará construir uma base social para essas ideias e construí-las junto a uma base social. Para isso, precisará exercitar a capacidade de acolhimento, estando presente na vida das pessoas, conhecendo seus problemas, sustentando espaços onde elas possam experimentar a própria potência e oferecendo res- postas situadas não apenas no futuro, mas aqui e agora. Em outras palavras, ela precisará encontrar novas maneiras de fazer aquilo que hoje é muito bem feito pelas igrejas evangélicas, e que um dia foi conhecido como trabalho de base.
Ela precisará, por fim, de uma noção de radicalidade distinta da afirmação intransigente da própria identidade. Pensar a política relacionalmente – em termos de polos, espectros, pontos de equilíbrio, janelas – ensina não só que nem tudo é possível a qualquer momento, como também que a relação entre um desejo e seu resultado é sempre indireta e passa por diversas mediações: com os desejos e interesses dos outros, com as relações de poder, com as instituições etc. Para fazer política, não basta o querer: é preciso calcular as mediações. Para fazer política transformadora, no entanto, apenas calcular as mediações também não basta. É preciso calculá-las sempre para cima, tensioná-las, levá-las a seu limite, de modo a abrir novos possíveis. Ninguém é radical intransitiva- mente, em termos abstratos; um radicalismo desse tipo é meramente estético, um fim em si mesmo, a performance de uma identidade. Ser politicamente radical é ser radical em relação a uma situação concreta. Não demarcar uma posição independente de qualquer contexto, mas descobrir aqui e agora qual é a posição mais transformadora capaz de conquistar um máximo de adesão e produzir os maiores efeitos – de maneira que, num momento futuro, objetivos maiores e melhores sejam possíveis.
Rodrigo Nunes (1978) é professor de filosofia moderna e contemporânea no Departamento de Filosofia da PUC-Rio. É autor de Organisation of the Organisationless: Collective Action after Networks (Mute, 2014) e de Beyond the Horizontal – Rethinking the Question of Organisation, a ser publicado pela editora britânica Verso. Dele, a serrote #24 publicou “Anônimo, vanguarda, imperceptível”.
O recurso a divisões geométricas é uma das características marcantes da obra abstrata de Rodrigo Bivar (1981), nascido em Brasília e radicado em São Paulo.
NOTAS
- Ver Gregory Bateson, Naven: A Survey of the Problems Suggested by a Composite Picture of the Culture of a New Guinea Tribe Drawn from Three Points of View. Cambridge: Cambridge University Press, 1936, pp. 176-187. Bateson diferencia “cismogênese simétrica” (em que cada grupo responde com um comportamento equivalente) de “complementar” (os grupos encarnam comportamentos complementares um ao outro), mas reconhece que a distinção não é sempre evidente, e relações de um tipo contêm elementos do outro. Curiosamente, são poucos ainda os que parecem ter notado como o pensamento de Bateson pode iluminar questões atuais. Entre estes, destaco o trabalho da antropóloga Letícia Cesarino “Pós-verdade: uma explicação cibernética”, Ilha (no prelo).
- Keith T. Poole e Howard Rosenthal, “The Polarization of American Politics”, The Journal of Politics. Chicago, v. 46, n. 4, nov. 1984, p. 1.061.
- Ibidem.
- Pew Research Center, “Political Polarization in the American Public”, Pew Research Center. Washington, 12.06.2014.
- Thomas E. Mann e Norman J. Ornstein, “Let’s Just Say It: The Republicans Are the Problem”, Washington Post, 27.04.2012.
- Eleonora de Lucena, “Nova direita surgiu após junho, diz filósofo”, Folha de S.Paulo, 31.10.2014. Ver também Fabrício Brugnago e Vera Chaia, “A nova polarização política nas eleições de 2014: radicalização ideológica da direita no mundo contemporâneo do Facebook”, Aurora. São Paulo, v. 7, n. 21, 2015, pp. 99-129.
- Há também quem negue o diagnóstico da polarização: ver Morris P. Fiorina, Samuel J. Abrams e Jeremy C. Pope, Culture War?: The Myth of a Polarized America. Nova York: Longman, 2004.
- Ver James Davison Hunter, Culture Wars. The Struggle to Define America. Nova York: Basic Books, 1991.
- Pablo Ortellado, “Guerras culturais no Brasil”, Le Monde Diplomatique, São Paulo, 01.12.2014
- Ibidem.
- Ibidem.
- Yascha Mounk, “How Labour Lost the Culture War”, The Atlantic, Boston, 13.12.2019
- A welfare queen, mulher (normalmente) negra que vive às custas de benefícios, foi uma figura retórica fundamental na transformação da percepção pública da seguridade social nos Estados Unidos. Ver Ange-Marie Hancock, The Politics of Disgust: The Public Identity of the Welfare Queen. Nova York: New York University Press, 2004; Josh Levin, The Queen: The Forgotten Life behind an American Myth. Nova York: Little, Brown and Company, 2019. No discurso bolsonarista, “mamata” é o termo que, aplicando-se tanto à corrupção e às regalias do alto funcionalismo quanto a cotas raciais nas universidades e a medidas de proteção contra a homofobia, estabelece a confusão entre direitos e privilégios que é central à retórica da extrema direita.
- Michael Kazin, The Populist Persuasion: An American History. Ithaca: Cornell University Press, 1995, p. 224.
- Stuart Hall, “The Great Moving Right Show”, Marxism Today. Londres, jan. 1979, pp. 14-20.
- Melinda Cooper, Family Values: Between Neoliberalism and the New Social Conservatism. Cambridge: Mit Press, 2017.
- Wendy Brown, In the Ruins of Neoliberalism: The Rise of Antidemocratic Politics in the West. Nova York: Columbia University Press, 2019.
- Nancy Fraser, “From Progressive Neoliberalism to Trump – and Beyond”, American Affairs. Nova Jersey, v. 1, n. 4, 2017.
- Para parte da classe média brasileira, por exemplo, as perdas sofridas por conta da inflação de serviços causada pela ascensão da classe C iriam se transformar em ódio de classe e revolta contra o PT. Sobre a inflação de serviços, ver Laura Carvalho, Valsa brasileira: Do boom ao caos econômico. São Paulo: Todavia, 2018, pp. 46-49.
- É isso que explica que, nos Estados Unidos, um bilionário despontasse como candidato antielite. Ver Rodrigo Nunes, “A vitória da obscenidade”, Folha de S.Paulo, 04.12.2016.
- A crença de que o antiglobalismo representaria uma descontinuidade do neoliberalismo denota uma confiança excessiva no discurso e uma falta de atenção à prática tanto dos novos governos de direita quanto dos ideólogos neoliberais, que nunca se furtaram de estruturas regulatórias ou medidas protecionistas quando conveniente. Ver Quinn Slobodian, Globalists: The End of Empire and the Birth of Neoliberalism. Cambridge: Harvard University Press, 2018.
- Um ponto cego notável no discurso da ciência política norte-americana é que, comparado com lugares como a Europa, o espectro partidário nos Estados Unidos sempre foi relativamente restrito. A ausência de um grande partido socialista ou social-democrata clássico ajuda a explicar por que, ao contrário até mesmo do Brasil, o país mais rico do último século jamais tentou criar um sistema de saúde público universal. Comparativamente, o centro da política norte-americana sempre foi assimétrico, tendendo mais à direita que em outras partes.
- Antes pelo contrário: diferentemente de crises epocais anteriores, como a dos anos 1930 (que levou ao contrato social keynesiano) e a dos anos 1970 (que resultou na hegemonia neoliberal), a de 2008 foi usada como pretexto para aprofundar, em vez de corrigir, os próprios mecanismos que a causaram.
- Embora o “populismo de esquerda” tenha estado longe de ser unanimidade, a versão mais influente desse discurso seria aquela articulada sob a inspiração de Laclau e Mouffe. Ver Ernesto Laclau, A razão populista. São Paulo: Três Estrelas, 2013; Chantal Mouffe, Por um populismo de esquerda. São Paulo: Autonomia Literária, 2020.
- Rodrigo Nunes, “Junho de 2013 aconteceu, mas não teve lugar”, IHU Online. Revista do Instituto Humanitas Unisinos. São Leopoldo, n. 524, 2018, p. 18.
- Ver Eliane Brum, “Acima dos muros”, El País, Madri, 28.03.2016.
- A oposição entre esses dois grupos foi, aliás, outro exemplo perfeito de polarização cismogênica: ao reduzir todas as questões políticas a uma só (“foi ou não foi golpe?”), ambos simultaneamente consolidavam suas identidades e projetavam um espaço totalmente bipartido no qual as pessoas devem se situar (a pergunta admitia apenas uma resposta binária, não era permitido sugerir que havia outras mais importantes).
- Marcos Lisboa, “Descontrole”, Folha de S.Paulo, 01.12.2019.
- Tomo a expressão emprestada de Samuel Pessoa, “A crise atual”, Novos Estudos Cebrap. São Paulo, n. 102, 2015.
- O período de 2015-2016 foi, contudo, a precipitação de um deslocamento à direita que vinha acontecendo lentamente há bem mais tempo, com recuos cada vez mais pronunciados do PT. O episódio do “kit gay” em 2011 foi um marco não só desse processo como da consolidação das “guerras culturais” no Brasil.
- Esse argumento, comum entre “conservadores” e “centristas”, tem uma notória versão de esquerda em: Angela Nagle, Kill All Normies: Online Culture Wars from 4chan and Tumblr to Trump and the Alt-Right. Alresford: Zero Books, 2017. Divirjo da crítica de Nagle em dois pontos. Primeiro, ela identifica identitarismo e ativismo “identitário”, não percebendo que se trata de um fenômeno mais amplo. Segundo, ela atribui peso explicativo excessivo à atuação on-line dos social justice warriors, minimizando dinâmicas sociais mais amplas. Esse problema fica claro num ponto-chave: ao pôr a alt-right como produto da radicalização de uma “esquerda identitária” que teria “exagerado”, ela ignora que aquilo que conta como “exagero” varia socialmente. Assim como o mundo não está dividido entre pessoas integralmente preconceituosas e pessoas integralmente não preconceituosas, atitudes preconceituosas estão distribuídas desigualmente numa sociedade; quanto mais tendências preconceituosas uma pessoa tiver, mais baixo seu limiar de tolerância, a ponto de que a simples visibilidade do outro (gay, trans, feminista…) possa ser experimentada como “exagero” e disparar um processo cismogênico.
- Um marco histórico nesse sentido foi a modificação, em 1995, da cláusula IV da constituição do Partido Trabalhista britânico, que estabelecia um compromisso com a busca da “propriedade comum dos meios de produção, distribuição e troca”.
- A ideia de que a polarização é produto da carga afetiva associada a identidades mais que de questões de política pública é explorada em Lilliana Mason, Uncivil Agreement: How Politics Became Our Identity. Chicago: University of Chicago Press, 2018.
- Ao supor que todos estão igualmente interessados em manter uma identidade política coerente, a esquerda frequentemente superestima a solidez das escolhas alheias, projetando uma visão de mundo completa por trás delas. Mas é perfeitamente possível, por exemplo, que uma pessoa seja contra a homofobia e eleitor de Bolsonaro; basta que a oposição à homofobia tenha para ela menos peso que outros fatores.
- Aquilo que Przeworski chamou de “vale transicional” é um problema fundamental para qualquer projeto político: para a maioria das pessoas, não basta que ele pareça de seu interesse, é preciso que a transição que ele exige não seja demasiado longa e custosa. Ver Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy. Cambridge: Cambridge University Press, 1985, pp. 176-177.
- Ver Laura Marsh, “The Flaws of the Overton Window Theory”, The New Republic, Nova York, 27.10.2016; Derek Robertson, “How an Obscure Conservative Theory Became the Trump Era’s Go-to Nerd Phrase”, Politico, Nova York, 25.02.2018.
Pingback: Polarização da política brasileira é tema de live do PPGPSDH - Coronavírus
Pingback: Polarização da política brasileira é tema de live do PPGPSDH – .:: RadioCom ::.
Pingback: Polarização da política brasileira é tema de live do PPGPSDH - Programa de Pós-graduação em Política Social e Direitos Humanos
Pingback: Existe uma ‘terceira via’ para o Brasil? - HebdoLatino
Pingback: revista “Serrote” n.º 34 – LevanteBH